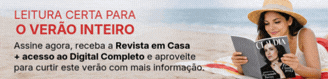O mistério dos não lugares e espaços limítrofes
Não fosse o chinês nas placas, essa foto poderia ser de Guarulhos ou do Galeão. E essa é uma observação perturbadora sobre a arquitetura do nosso tempo.

Esta é a carta ao leitor da edição 473 da Super, de março de 2025.
Esses dias, tropecei em uma imagem dos carrosséis de bagagem no aeroporto de Beijing – aquelas esteiras em que as malas despachadas desfilam preguiçosamente à espera de seus donos recém-desembarcados.
Era uma foto especial justamente porque não tinha nada de especial. Não fossem os ideogramas nas placas, poderia ter sido feita em Guarulhos ou no Galeão.
O etnógrafo francês Marc Augé propôs, em 1995, que aeroportos, shoppings, redes de fast-food, hotéis e praças de pedágio – tudo que é homogêneo mundo afora, mesmo em países com culturas radicalmente diferentes – fossem definidos como não lugares.
Em geral, trata-se de construções ocupadas provisoriamente por viajantes entediados e funcionários uniformizados. Lugares de trânsito, em vez de permanência.
Esses ambientes são um contraponto ao choque cultural de pousar em um país distante. Coisa que até o mais experiente dos viajantes, o chef Anthony Bourdain, já sentiu: ao chegar ao Japão pela primeira vez, ele considerou matar a fome em uma Starbucks em vez de entrar em um boteco típico de Tóquio: “Eu estava agudamente consciente do quão bizarro e gringo eu parecia”.
Aeroportos são um exemplo do que a internet convencionou chamar de espaço liminar ou limítrofe. Eles são velhos conhecidos da ficção. Em Crônicas de Nárnia, uma espécie de Jardim do Éden serve de hub de conexão entre diferentes mundos, acessados por lagoas.
Em Matrix Reloaded, o herói Neo acessa um corredor branco repleto de portas “de serviço” – cada uma dá acesso a um dos cenários da simulação de computador em que a humanidade foi aprisionada.
A neutralidade excessiva, porém, pode ser tão aterrorizante quanto a diferença. Vide a lenda urbana das backrooms, que nasceu no submundo online do fórum 4chan em 2019.
A ideia é que seria possível se teletransportar acidentalmente para uma realidade paralela formada por labirintos intermináveis de salas vazias, silenciosas e desprovidas de janelas, com carpete, papel de parede desbotado e luzes brancas, como os corredores de um hotel decadente.
Parece inofensivo, mas não é: curtas de terror sobre as backrooms, feitos com CGI e publicados no YouTube, são ansiedade engarrafada.
O que isso tem a ver com a vida real? Bom: até o século 19, basicamente toda a arquitetura envolvia ornamentação. Pense nas gárgulas, colunas, cúpulas e arcos dos teatros, bibliotecas e prédios públicos dessa época, comuns nos centros históricos das cidades brasileiras.
No começo do século 20, os modernistas levaram o design e a arquitetura para um caminho diferente. O austríaco Adolf Loos escreveu que “a evolução da cultura é sinônimo da remoção de ornamentos dos objetos de uso diário”. Essa foi uma visão inf luente, que deu início à era dos arranha-céus quadradões com fachadas de vidro e aço (como as torres do World Trade Center, ícones modernistas).
Muitas dessas construções, como o Palácio Capanema, no Rio, são bastiões do bom gosto. Mas a onipresença das fachadas de vidro foi longe demais, e transformou o centro de nossas cidades em grandes aeroportos.
Os paredões acinzentados e reluzentes dos arranha-céus ocultam as especificidades da cultura local e transformam Farias Limas e Wall Streets do mundo todo em uma coisa só: labirintos translúcidos percorridos por engravatados apressados. É uma tendência triste. Cidades, afinal, são lares. E não dá para ser um lar sem antes ser um lugar.
Bruno Vaiano
Editor-Chefe
bruno.vaiano@abril.com.br
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO