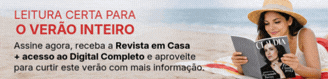A Copa dos separatistas
Eles querem declarar independência. Enquanto não conseguem, organizam uma Copa do Mundo com 12 países não reconhecidos pela ONU. E nós fomos assistir

Reportagem originalmente publicada pela SUPER em 2016
É domingo, faz sol e o estádio Dynamo, recém-reformado, está lotado. Oito mil pessoas se apertam em suas duas arquibancadas, quase o dobro da capacidade. Quem está de fora escala o muro do estádio e se espreme pelas grades que o cercam. As duas seleções pisam no gramado, que parece um tapete (e é mesmo, de grama sintética). A seleção do Panjab, um território que fica entre a Índia e o Paquistão, vai enfrentar o time da casa: a Abkhazia, uma nação de 200 mil habitantes que fica entre a Geórgia e a Rússia – e foi um dos motivos da guerra entre as duas, em 2008.
Toca o hino de Panjab, uma batida tecno de má qualidade, mas que faz sucesso com os fãs de música eletrônica presentes. Depois vem o hino da Abkhazia, com melodia soviética e letra bem bélica (“Marchem, marchem/Derramem nosso sangue pela Abkhazia/pela independência”). Os jogadores se viram para a bandeira do país, e os torcedores fazem o mesmo – inclusive os que estavam sentados no muro do estádio, que com comovente esforço dão um jeito de se equilibrar em pé. O clima de nacionalismo é arrebatador. Bem ao lado do estádio, dá para ver as ruínas do palácio do governo, parcialmente destruído. O juiz apita. Vai começar a grande final. Estamos na cidade de Sukhumi, a capital da Abkhazia. Ela se declarou independente da Geórgia em 1992, suportou ataques militares e conseguiu sua autonomia, mas só é reconhecida como país por quatro países (Rússia, Nicarágua, Venezuela e a República de Nauru, na Micronésia). No começo de junho, a Abkhazia sediou a Copa de Futebol do Mundo, um evento organizado pela ConIFA: a Confederação de Associações de Futebol Independente, entidade criada em 2013 nos mesmos moldes da Fifa, só que reunindo as seleções de futebol de territórios, grupos e países separatistas, não reconhecidos pela ONU. Mas o que é preciso, afinal, para um lugar ser reconhecido e poder chamar a si mesmo de país? É muito, mas muito mais difícil do que parece.
Nações desunidas
A definição moderna de “país” surgiu na Convenção Internacional de Montevidéu, de 1933. Para ser reconhecido como tal, um local precisa ter quatro coisas: território definido, população permanente, governo próprio e relações diplomáticas com outros países. Parece bem claro. Mas, na prática, nem sempre é exatamente assim. O Vaticano tem território minúsculo e população idem (800 pessoas, das quais 450 têm cidadania vaticana), mas é aceito como nação independente. A Bélgica ficou quase dois anos sem governo, entre 2010 e 2011, e nem por isso deixou de ser considerada uma nação. O território também é algo relativo: atualmente, há mais de cem áreas em disputa no mundo. Até o Brasil tem pendências territoriais, como a Ilha Brasileira, localizada no Rio Quaraí e atualmente disputada entre Brasil e Uruguai. Por tudo isso, as relações diplomáticas acabam sendo o critério que mais conta na hora de definir o que é ou não país. Se você quer ser um país, a chave é ser reconhecido por outros países. E isso acontece na ONU.
Mas ser aprovado lá é um processo dificílimo. Primeiro você apresenta um pedido formal e se compromete a seguir as regras da ONU. Beleza. Mas daí o processo vai para um conselho de segurança, composto por 15 países, onde você precisa de pelo menos nove votos a favor – e não pode ser vetado por nenhum dos membros permanentes do conselho (China, EUA, França, Rússia e Reino Unido). Se passar, o pedido é votado na assembleia geral da ONU, onde é necessário obter dois terços dos votos dos 193 países representantes. Imagine o grau de convencimento e lobby necessários, nos quatro cantos do mundo, para conseguir isso. É tão difícil que até países praticamente estabelecidos, como Hong Kong, Kosovo e Taiwan, ainda não são reconhecidos pela ONU. Muitas nações acabam ficando no limbo. Na Olimpíada do Rio, mês passado, havia vários deles: Porto Rico, Guam, Aruba e Ilhas Cayman, que não estão na lista da ONU, mas competiram nos Jogos. O Comitê Olímpico Internacional é um pouco mais camarada do que a ONU: reúne 206 nações. E a Fifa, com 211, também. Mas há povos e territórios que não conseguem entrar nem nesses grupos. Aí, a saída é a ConIFA.
Nela entra praticamente qualquer um. “Nossa única preocupação é que os jogadores se identifiquem de coração com as camisas que estão vestindo, com a nação que representam”, diz o alemão Sascha Düerkop, secretário-geral da ConIFA. A Copa deste ano foi a segunda (a primeira edição aconteceu em 2014, na Lapônia), e reuniu 12 seleções – em sua maioria, formadas por jogadores amadores, que pagam as próprias despesas de viagem. A seleção da Padânia, um território do norte da Itália que luta por autonomia política, era um bom exemplo disso. Mesmo com toda a tradição futebolística da Bota, ela quase só tinha amadores. “Aquele ali é cabeleireiro, o outro trabalha na construção civil e o rapaz de bigode é delegado da cidade onde mora”, diz Matteo Prandelli, um dos poucos profissionais do time. “E nós moramos em cidades diferentes, então é difícil treinar juntos.” Apesar disso, a Padânia não deu vexame: ficou em quarto lugar, logo atrás do Chipre do Norte – mesmo país do juiz que apitou a final entre Abkhazia e Panjab.
Virada milagrosa
O jogo começou amarrado, com os times se estudando. Até que, aos 12 minutos do segundo tempo, Amar Purewal abriu o placar para o time do Panjab. A torcida local ficou perplexa, em silêncio. Até que, faltando dois minutos para o fim da partida… goooooooool da Abkhazia! A torcida enlouqueceu – e enfureceu o chefe de segurança, que corria ferozmente atrás de alguns torcedores que invadiram o campo para comemorar.
Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. Os dois times acertaram a primeira cobrança. Mas aí a Abkhazia errou duas em seguida. Tudo estava perdido, ou quase. A Abkhazia precisava acertar as duas cobranças que faltavam, e rezar para o Panjab errar ambas. Mas os deuses do futebol pareciam estar do lado abkházio. O time conseguiu virar. E quando o atacante Vladimir Argun converteu a última cobrança, garantindo a vitória aos donos da casa, não houve segurança que conseguisse conter a torcida. No gramado, torcedores se enrolavam em bandeiras e davam a volta no campo junto com os jogadores. Uma velhinha carregava uma bandeira da Abkhazia em uma mão e uma foto de Vladislav Ardzinba, com a inscrição “nosso presidente”, na outra. Depois da guerra com a Geórgia, Ardzinba assumiu uma posição de liderança, e foi considerado pela população o primeiro presidente da Abkhazia. Depois do jogo, o primeiro-ministro Artur Mikvabia fez um discurso empolgado e decretou feriado nacional no dia seguinte. A Abkhazia era campeã do mundo. Pelo menos, do seu próprio mundo – o dos povos que querem ter, mas ainda não conquistaram, o direito de ser um país.
Algumas semanas depois da vitória, a Abkhazia fez um pedido formal para entrar na Fifa. A imprensa local perguntou ao primeiro-ministro se o país aceitaria disputar um amistoso contra a seleção da Geórgia. Mikvabia foi categórico: “Se eles reconhecerem a nossa independência, eu não vejo nenhum problema”. O esporte, afinal, nunca é apenas esporte. É um espelho da política.
Elas têm em comum as histórias de luta – mas nem todas são boas de bola
1. Chipre do Norte
Porção norte da Ilha de Chipre, com 300 mil habitantes. Declarou independência em 1983, sem muito êxito (só a Turquia, sua vizinha, o reconhece). Bom de bola, seu time é famoso por ter aplicado massacrantes 15×0 na seleção de Darfur (Sudão). Ficou em terceiro na ConIFA.
2. Curdistão
Região no norte do Iraque com 28 milhões de curdos. Não se dá com o governo central e quer fazer um plebiscito de independência este ano (já tentou em 2014). Na copa separatista, perdeu nas quartas-de-final, nos pênaltis, para a Padânia.
3. Padânia
Parte mais rica da Itália, com 34 milhões de habitantes distribuídos por 14 regiões no norte do país. Sua autonomia foi proposta nos anos 1970 pelo deputado Guido Fanti, e hoje é defendida pelo partido político Lega Nord. O time ficou em quarto lugar na ConIFA.
4. Sápmi
Representa os Sami, povo indígena da Lapônia (região que cobre pedaços de Rússia, Finlândia, Suécia e Noruega). Tem atletas de alto nível: chegou a ceder quatro jogadores para a seleção oficial da Noruega. Foi eliminada da ConIFA nas quartas-de-final, pela Abkhazia, por 2×0.
5. Somalilândia
Região no norte da Somália com governo e moeda próprios e 25 anos de independência autodeclarada. Mas que, apesar disso, não é reconhecida por nenhum país. Disputou dois jogos na ConIFA e perdeu ambos por 5×0. Mas o carisma dos jogadores conquistou o público.
6. Raetia
Província romana conhecida pela fúria em combate – mas hoje parte da pacífica Suíça. O time existe desde 2011 e é fraquinho, com quatro vitórias, nove derrotas e um empate em jogos internacionais. Saco de pancada da ConIFA, goleado por Padania (6×0) e Chipre do Norte (7×0).