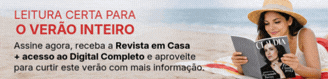O que não te contam sobre o mundo wellness
O bem-estar é uma indústria trilionária, que cresce 5,9% ao ano, tem um lobby historicamente poderoso para driblar agências de vigilância sanitária e lota farmácias e redes sociais de produtos sem eficácia comprovada. Entenda como separar o joio do trigo – e não perder dinheiro e saúde com alegações infundadas.

Texto Manuela Mourão e Rafael Battaglia Foto Eduardo Dulla
Design Juliana Krauss Edição Bruno Vaiano
G
wyneth Paltrow é uma atriz americana lembrada por filmes como Se7en, Homem de Ferro, Os Excêntricos Tenenbaums – e, claro, por ter vencido o Oscar em cima da Fernanda Montenegro pelo seu papel em Shakespeare Apaixonado (doeu em 1999, continua doendo em 2025).
Apesar da carreira bem-sucedida, Paltrow não trabalha só em Hollywood. Nos últimos anos, na verdade, ela diminuiu o ritmo de gravações para focar em um negócio paralelo – que, segundo a atriz, é a sua verdadeira paixão. Em 2008, ela fundou a Goop, uma empresa focada em bem-estar que começou como uma newsletter e, agora, é um império avaliado em US$ 250 milhões.
Hoje, a Goop tem loja online, livros e podcasts. Só tem um problema: a marca divulga produtos e conselhos de saúde pra lá de controversos, como beber leite de cabra cru para acabar com parasitas no estômago, andar descalço para curar a depressão e introduzir enemas de café e oxigênio pelo ânus para melhorar a saúde do cólon. O caso mais famoso talvez seja o da pedra de jade vendida no site da empresa: por US$ 66 (R$ 380), ela promete aumentar a musculatura da vagina e equilibrar os hormônios femininos.
A maioria das alegações da Goop já foram desmanteladas por diversos profissionais de saúde. A empresa diz que as críticas não passam de “ataques indiscriminados que questionam a motivação e a integridade dos médicos que contribuem para a companhia”. Apesar das controvérsias, a Goop segue a pleno vapor – em 2020, aliás, produziu o próprio documentário para a Netflix.
Paltrow não é a única celebridade nesse mercado. A americana Kourtney Kardashian, que tem 219 milhões de seguidores no Instagram, é dona da Lemme, que vende jujubas, balas e pirulitos em um site todo colorido. O que poderia ser a loja do Willy Wonka, na verdade, é um laboratório de suplementos alimentares que prometem uma série de benefícios, como emagrecer, fazer crescer unhas e cabelos, melhorar o metabolismo e a aparência da pele.
No Brasil, a influenciadora Virginia Fonseca, com 53 milhões de seguidores no Insta, faturou mais de R$ 107 milhões no primeiro trimestre de 2024 com suas marcas – entre elas, a Wpink, que vende suplementos encapsulados e em pó. Um dos produtos mais conhecidos é o colágeno, que Virginia divulgou servindo uma dose para suas duas filhas, de 2 e 3 anos de idade. (Spoiler: não funciona. Toda proteína ingerida pelo corpo precisa passar pelo sistema digestório, onde é quebrada em aminoácidos. Uma vez nas células, essas peças de Lego bioquímicas serão usadas para construir quaisquer proteínas – e não necessariamente remontadas como colágeno.)
Todas essas empresas estão sob o mesmo guarda-chuva: o do wellness (em inglês, “bem-estar”). Trata-se de um conceito que nasceu nos anos 1950 e que engloba não apenas cuidados com a saúde física mas também com a mente e o espírito. Exercícios, meditação, sucos detox… Quase tudo pode ser wellness.
Segundo o Global Wellness Institute (GWI), entidade sem fins lucrativos e uma das maiores embaixadoras do setor, o mercado global de wellness vale US$ 6,3 trilhões. Isso dá quatro vezes o tamanho da indústria farmacêutica, que mede US$ 1,6 tri.
A expectativa é que esse mercado cresça 7,3% até 2028, quando deve chegar aos US$ 9 trilhões. O tamanho do setor, claro, tem a ver com a sua amplitude. O GWI lista 11 ramos do bem-estar. Três deles concentram 52% do faturamento: cuidados pessoais e beleza; comida saudável, nutrição e perda de peso; e atividade física.
Até aí, tudo bem. Ninguém discorda que cosméticos, academias e alimentação saudável se enquadram em wellness. Mas algumas categorias são mais vagas. No chamado “turismo wellness”, por exemplo, o GWI inclui destinos como spas e resorts – e também considera quem, mesmo durante uma viagem, não deixa de ir à academia. Mas será que passar o fim de semana com amigos na praia, bem longe das anilhas, não é bem-estar?

Por essas e outras, há medições mais cautelosas. A consultoria McKinsey, por exemplo, diz que o wellness vale, no mundo, “só” US$ 1,8 trilhão. As descrições das subcategorias de produtos e serviços também são mais enxutas: saúde, nutrição, aparência, sono, mindfulness (psicoterapia, meditação) e fitness (atividade física).
Seja qual for o real tamanho desse filão, o fato é que ele está em alta. E a pandemia contribuiu para isso: os gastos per capita com produtos ligados a esse mercado cresceram 5,9% ao ano entre 2019 e 2023. “Nós tendemos a nos voltar para os nossos corpos quando a vida parece fora de controle”, escreveu a americana Barbara Ehrenreich no livro Natural causes (“Causas naturais”), sobre a busca desenfreada pelo bem-estar nos dias de hoje.
Faz sentido. No auge da quarentena, houve quem encontrasse alento em sessões de terapia, aulas de yoga e fornadas de pão caseiro. O problema é que a Covid também abriu a porteira para um sem–fim de produtos com alegações infundadas, que apostaram no medo do vírus para deslanchar. Havia de tudo: suplementos para melhorar o sistema imunológico, sabonete para limpar vírus do rosto (até uma pedra de sabão de coco faz isso) e sucos detox que tiravam o Sars-CoV-2 do corpo (ah, se fosse fácil assim).
A pandemia acabou, mas as arapucas ligadas ao bem-estar ainda são um problema. A falta de informações confiáveis nas redes sociais, claro, contribui bastante. Um estudo (1) analisou os vídeos mais populares no TikTok de três hashtags ligadas a dietas: #dietpills (“pílulas de emagrecimento”), #preworkout (“pré-treino”) e #detox, que dispensa tradução. 97% dos conteúdos faziam alegações sem evidências científicas. Uma outra pesquisa (2), esta da Universidade Federal de Juiz de Fora, analisou centenas de influenciadores fitness brasileiros no Instagram. O levantamento sugere que, quanto maior o perfil do criador de conteúdo, menor é a qualidade das informações compartilhadas.
Como separar o joio do trigo do mundo wellness? É o que vamos entender aqui, a começar por uma fatia expressiva desse mercado: a dos suplementos alimentares.

Avalanche de pílulas
As vitaminas foram descobertas em 1913 pelo bioquímico polonês Casimir Funk, ao analisar um estudo com aves que comparava a incidência de polineurite (doença similar ao beribéri, que causa fraqueza, câimbras e dificuldade respiratória em humanos) entre as que comiam arroz branco e arroz integral. As que se alimentavam da versão branca sofriam de polineurite; as que bicavam grãos integrais, não.
Funk identificou que a tiamina, uma substância presente na casca do arroz integral, poderia prevenir (e até curar) a polineurite. E percebeu que o mesmo fenômeno acontecia em humanos. Logo, a comunidade científica se deu conta de que várias doenças conhecidas tinham a ver com o déficit de alguma molécula específica na alimentação.
Nos anos seguintes, Funk e outros cientistas seguiram isolando vitaminas até chegar às 13 que conhecemos hoje (a tiamina é a famosa B1). E logo essas substâncias passaram a ser comercializadas. Na década de 1920, por exemplo, Funk criou o Oscodal, pílula com uma dose extra de vitaminas A e D, indicada para crianças, que fez sucesso na Europa.
Mas o boom dos suplementos começou mesmo do outro lado do Atlântico, graças ao químico americano Linus Pauling. Duas vezes vencedor do Prêmio Nobel, Pauling já era famoso quando, nos anos 1970, lançou um livro sobre os supostos benefícios da vitamina C no combate ao resfriado.
O cientista se inspirou em pesquisas de décadas anteriores, que haviam relacionado corretamente a falta dessa vitamina com o escorbuto, doença que matou milhões de marinheiros sem acesso a laranjas ou limões.
A vitamina C, então, tornou-se a obsessão de Pauling. Ele sugeriu que as pessoas tomassem 3.000 mg da substância por dia (a recomendação atual da OMS é de 45 mg). Ele próprio ingeria 18.000 mg diariamente, e dizia que os suplementos eram a chave para curar várias doenças, incluindo o câncer.
Com isso, Pauling lançou as bases da chamada “medicina ortomolecular”, que consiste em megadoses de vitaminas e nutrientes para tratar doenças. Os suplementos viraram febre nos EUA e deram origem a uma poderosa indústria, e alguns dos ensinamentos de Pauling se enraizaram no inconsciente coletivo – ou vai me dizer que ninguém nunca te recomendou vitamina C para sarar de uma gripe?
Diversos estudos, porém, mostraram que as ideias de Pauling, apesar de seu gabarito intelectual, estavam equivocadas. E isso não vale só para a vitamina C: salvo exceções em que um paciente precisa complementar a alimentação por recomendação médica (anêmicos, gestantes, veganos), suplementos vitamínicos produzem pouco ou nenhum efeito benéfico. Uma dieta equilibrada costuma dar conta do recado, e as vitaminas que você ingere a mais são simplesmente descartadas pelo corpo. Por isso, a terapia ortomolecular é classificada como pseudociência e desaconselhada por nutricionistas sérios.

Além de pouco necessários para a maioria das pessoas, os suplementos podem fazer mal em grandes quantidades. A partir de 2.000 mg de vitamina C diários, é possível sentir náusea e diarreia. Doses cavalares de vitamina D, por sua vez, podem comprometer artérias e rins. Tudo isso, porém, não impediu que eles deslanchassem. Em 1990, havia mais de 4 mil produtos do tipo nos EUA. E uma tragédia envolvendo um deles foi decisiva na história desse mercado.
Naquele ano, 38 americanos morreram e outros 1,5 mil foram internados após tomarem l-triptofano, um aminoácido que prometia curar insônia e reduzir o apetite. As autoridades rastrearam a causa do problema até a empresa japonesa Showa Denko, que fornecia a molécula para a maioria das marcas americanas.
Calhou que o triptofano, encontrado em alimentos como banana, amendoim, leite e carne, não foi o responsável pelas mortes. Acontece que a Denko misturou por acidente EBT, uma substância tóxica que causou eosinofilia-mialgia, doença que ataca o pulmão e o coração. O caso foi notícia em todo o país – e obrigou a FDA (órgão de vigilância sanitária dos EUA, equivalente à nossa Anvisa) a tomar providências.
A FDA decidiu, então, regulamentar a venda e a rotulagem dos suplementos – algo que não era feito até então. O crivo seria estrito, assim como acontece com remédios: seria preciso comprovar a segurança e a eficácia desses produtos, e eles só poderiam ser vendidos com prescrição médica. Além disso, a agência passaria um pente-fino no mercado para retirar das prateleiras itens inúteis ou prejudiciais à saúde.
A indústria de suplementos, claro, não gostou – e investiu pesado em propaganda para que isso não se concretizasse. As campanhas publicitárias incentivavam os consumidores a entrar em contato com o Congresso para fazer coro. Um dos anúncios contou com a participação do ator Mel Gibson: no comercial, ele é revistado e preso pela FDA por estar com um pacote de vitamina C.

O lobby deu certo. Em 1994, o governo aprovou a Lei de Saúde e Educação sobre Suplementos Dietéticos (DSHEA, na sigla em inglês), de autoria de dois senadores: o republicano Orrin Hatch e o democrata Tom Harkin. A DSHEA limitou a ação da FDA: em vez de classificar os suplementos como remédios, o órgão passou a enquadrá-los como alimentos, que têm uma fiscalização mais branda. Hatch e Harkin receberam várias doações do setor de vitaminas nos anos seguintes.
A DSHEA fez chover suplementos nas gôndolas americanas. Hoje, há 100 mil produtos do tipo por lá; 75% dos americanos os consomem. A FDA pode até recolher substâncias que sejam alvo de denúncias (por efeitos colaterais ou propaganda enganosa, por exemplo) – mas tem pouco poder para determinar o que vai ou não entrar no mercado. O mais comum é encontrar suplementos que prometem mil e um benefícios com uma pequena nota de rodapé: “Tais alegações não foram avaliadas pela FDA. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença”.
E no Brasil?
Por aqui, os suplementos estão presentes em 59% dos lares, segundo uma pesquisa de 2023 da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad). A Abiad surgiu ainda em 1986 e representa empresas não só de suplementos mas também de nutrição infantil, comidas diet, adoçantes e outros segmentos.
Até o início dos anos 2000, a Anvisa exigia que os suplementos apresentassem registros sanitários, assim como vacinas e medicamentos. Foi ficando mais difícil conforme o mercado americano adquiriu força, pós-DSHEA.
Foi nesse cenário que vários suplementos ganharam fama, como a creatina e o whey protein, os queridinhos de quem malha por serem indicados, respectivamente, para aumentar a performance nos exercícios e o crescimento muscular. Quem viajava para a gringa via os produtos bombando por lá e os trazia para o Brasil sem muita dificuldade – não só para consumo próprio mas também para vendas ilegais. Foi o início de um mercado clandestino.
Para organizar a casa, a Anvisa retirou em 2010 a obrigatoriedade dos registros. A legislação mais camarada visava enfraquecer o mercado paralelo. O resultado foi uma avalanche de novos suplementos em farmácias, na internet e em propagandas na TV brasileira.
Aqui, surge outra personagem que se popularizou e cresceu graças às porteiras abertas: a melatonina. Nos Estados Unidos, principalmente, as promessas de cura da insônia por meio desse suplemento já movimentavam legiões de seguidores.
O único porém é que a melatonina não é qualquer molécula. “Diferente do whey, que é um nutriente [proteína extraída do soro do leite], a melatonina é um hormônio”, diz Bruna Maria, biomédica e parte da equipe do perfil de divulgação científica Olá, Ciência. Quando ela chegou ao Brasil sob a forma de suplemento, por volta de 2017, havia poucos estudos científicos e nenhum padrão de dosagem. Isso gerou preocupação. A melatonina regula o relógio biológico do corpo, e uma dose alta poderia bagunçar o sono e uma série de processos do organismo.

Foi só em 2018, quase uma década depois, que a Anvisa voltou atrás da abertura inicial. Com a Resolução nº 243, a agência chegou com um novo marco regulatório, que estabeleceu uma série de requisitos sanitários para a composição dos suplementos alimentares.
Funciona assim: a Anvisa mantém uma lista com centenas de ingredientes autorizados para compor a fórmula de um suplemento, bem como suas dosagens mínimas e máximas. “É como o Masterchef, em que só se pode cozinhar com o que estiver disponível no mercado. Se uma empresa quer desenvolver um novo produto, deve se ater a essa lista”, diz Gislene Cardozo, diretora-executiva da Abiad.
Feita a mistura para o suplemento, as empresas devem seguir as regras da Anvisa para criar o rótulo. Isso vai depender dos ingredientes escolhidos: cada um deles tem alegações permitidas (“vitamina A auxilia na visão”, “magnésio auxilia na formação de ossos e dentes”, e por aí vai). Ou seja: nada de promessas milagrosas. A agência ressalta que os suplementos são indicados para pessoas saudáveis, e que não servem para tratar, prevenir ou curar doenças.
Em 2021, veio a liberação da melatonina, mas com uma dosagem permitida bem menor do que a praticada nos EUA. Não à toa, a Anvisa não permite que nenhuma alegação de benefícios seja feita em produtos com o hormônio.
Em 2024, o cerco fechou mais um pouco. A Resolução nº 843 definiu que os suplementos precisam passar por uma notificação antes de irem para o mercado, e aqueles que já estão sendo comercializados devem entregar uma notificação também. A Anvisa, então, precisa analisar o produto e depois decidir se ele é legítimo ou não. Só com uma aprovação no Diário Oficial é que ele pode, enfim, ser vendido.
Os produtos têm até setembro de 2025 para se adequarem às novas normas. Depois desse prazo, caso não tenham a aprovação, não poderão ser distribuídos. “Com o novo marco, nós, consumidores, teremos mais visibilidade daquilo que é verdade e do que é mentira”, explica a sanitarista Thaís Gondar, fundadora da Regulatory Academy, uma escola voltada para processos regulatórios.
Para Gondar, o cenário ideal seria ainda mais rígido: os suplementos deveriam ser registrados da mesma forma que remédios. Isso porque, mesmo com a fiscalização, os suplementos ainda são terreno para irregularidades e adulterações. Em 2023, eles foram responsáveis por 48% das medidas cautelares da Anvisa no setor de alimentos.
Outro problema é fiscalizar o que circula na internet. “Os stories de influenciadores caem em um limbo: não correspondem nem à bula nem ao rótulo dos produtos. Além disso, ficam apenas 24 horas no ar, o que dificulta a análise da Anvisa contra as infrações sanitárias”, diz o biomédico Lucas Zanandrez, do Olá, Ciência.
Mas fica a dica: esses conteúdos não são intocáveis. A Anvisa mantém um canal de denúncia para propagandas abusivas e enganosas. Os suplementos integram a Lei Federal 6.360, que engloba medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos dietéticos – e, por causa disso, jamais podem induzir os consumidores a erro.
Essa, por sinal, é a mesma legislação que rege outro ramo essencial do wellness: o dos cosméticos. Vamos entender agora como esse mercado funciona.

A era do skin care
No final do século 19, óleos com ômega 3 trazidos por imigrantes chineses viraram moda entre trabalhadores braçais nos EUA. Logo, o mercado foi inundado por versões adulteradas – e, frequentemente, perigosas. A farra dos charlatões inspirou, em 1906, a criação da Lei de Medicamentos e Alimentos Puros, uma das primeiras legislações de proteção ao consumidor do país.
Nos anos 1930, a FDA resolveu atualizar a lei. No pacote, os cosméticos entraram na jogada. Já não era sem tempo: naquela época, o mercado estava inundado de cremes, maquiagens, sabonetes e perfumes com propagandas abusivas e ingredientes perigosos, como tório e rádio – elementos radioativos.
A lei dos cosméticos passou a valer em 1938. Mas, ao contrário de outros segmentos, como comidas e remédios, a legislação para batons, delineadores e cia. passou por pouquíssimas atualizações desde então – e acabou não acompanhando o caminhão de avanços científicos que ocorreram na área. Com exceção de alguns corantes, a FDA não tem controle sobre a composição dos produtos de beleza que vão para o mercado.
O resultado: a FDA recebe, por ano, 5 mil reclamações de problemas de saúde relacionados a cosméticos. Em 2022, o governo deu início a uma série de mudanças legislativas para endurecer o controle sobre esse mercado. Os fabricantes, por exemplo, terão que renovar seus registros a cada dois anos e tornar mais claras as informações dos ingredientes. Mas, por mais que as mudanças sejam bem-vindas, alguns especialistas dizem que elas ainda serão insuficientes.
Os EUA têm, hoje, uma das legislações mais permissivas do mundo em relação a cosméticos. E isso traz consequências até para países com crivos mais duros, caso do Brasil. Produtos impróprios podem acabar por aqui via contrabando – e, se ficarem famosos, dão combustível ao lobby da indústria para que sejam liberados.

É um problema sério, em especial se levarmos em conta que, com as redes sociais, nunca estivemos tão expostos à publicidade de produtos de beleza.
No TikTok, vídeos com a hashtag #grwm, abreviação de Get Ready With Me (“arrume-se comigo”), têm mais de 150 bilhões de visualizações. O conteúdo se resume a pessoas se arrumando para todo e qualquer tipo de evento: um jantar, um encontro, uma ida ao cinema e até para dormir. Muitos deles, porém, trazem consigo publicidades discretas, recomendando algum cosmético específico.
São cremes e bugigangas infinitas que prometem melhorar a textura da pele, reduzir inchaços, fechar os poros, aumentar a elasticidade, tratar o rosto com luzes e reduzir as rugas. E é óbvio: o uso desenfreado desse arsenal, sem acompanhamento de um dermatologista, pode prejudicar mais do que ajudar.
Além disso, a introdução a esse mundo tem acontecido cada vez mais cedo. Nos EUA, crianças e adolescentes de até 14 anos são responsáveis por 49% das compras, em farmácias, de produtos para a pele. Muitos desses produtos, porém, não são indicados para crianças – ao entrar em contato com peles mais jovens e sensíveis, cremes e afins podem causar irritações, queimaduras e, inclusive, acelerar o processo de envelhecimento.
E agora, José?
Se você chegou até aqui um tanto desapontado com o mundo wellness, é compreensível. É cada vez mais difícil separar as boas iniciativas voltadas para a saúde e o bem-estar das que pouco têm a acrescentar. Mas isso não é sua culpa.
Timothy Caulfield, diretor de pesquisa do Instituto de Direito da Saúde da Universidade de Alberta (Canadá), cunhou o termo scienceploitation (algo como “exploração da ciência”) para se referir à manipulação de conceitos científicos para vender um produto ou serviço. Você conhece: são aquelas propagandas que usam a esmo palavras como “natural”, “funcional” ou “quântico”.
Scienceploitation também tem a ver com se apoiar em pesquisas frágeis – mas que, com a maquiagem certa, imprimem credibilidade aos olhos do público leigo. É uma estratégia eficaz: em um estudo (4) de 2021, pessoas que diziam confiar na ciência eram justamente as mais propensas a compartilhar alegações falsas (mas que continham alguma referência científica, seja ela qual fosse, motivo pelo qual induziam os usuários de redes sociais a erro).
Não tem muito segredo. Para evitar cair em arapucas, é preciso pesquisar à exaustão em sites confiáveis e desconfiar de qualquer anúncio que pareça bom demais para ser verdade – geralmente, não é. E, se possível, denunciar à Anvisa produtos milagrosos que te enviarem pelo WhatsApp.

Em inglês, “wellness” tem um significado mais amplo do que só “bem-estar” (para essa expressão, usa-se “well-being”). Diz respeito a uma busca constante, ativa e individual por qualidade de vida. É uma definição bonita – mas que costuma ser distorcida pela indústria.
“Para as empresas, não basta que você consuma uma vez. Você precisa se tornar um consumidor eterno”, diz Bruno Gualano, pesquisador associado do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP. “Isso gera ansiedade e frustração. É vendido um ideal de beleza impossível de atingir.” Além disso, não é todo mundo que pode bancar pela busca do wellness. “Como dizer a uma mãe periférica, com três filhos, que ela precisa encontrar tempo para trabalhar, fazer caminhada, preparar uma janta saudável e dormir oito horas por noite?”
“A indústria se aproveita da população vulnerável que não consegue preencher todos os pilares do bem-estar (alimentação, exercícios, saúde mental e sono) e, a partir daí, oferece um rol de soluções práticas”, diz a biomédica Bruna Maria. “Se desse para encapsular exercício físico, seria a pílula mais vendida da história.”
O Brasil é o país mais sedentário da América Latina, o quinto no mundo. Mais da metade da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade. Dezoito milhões de pessoas com ansiedade vivem aqui – somos o campeão nesse quesito. Não há nada de errado na busca individual pelo bem-estar. Mas só isso não basta. Sem políticas públicas que garantam condições para uma vida saudável, além de uma fiscalização maior sobre as propagandas que circulam nas redes, vamos continuar no mesmo lugar. Não adianta estar pleno se todos ao redor não estiverem também.
Agradecimentos Bruna Hassan, nutricionista e pesquisadora da ACT Promoção da Saúde. Mauro Proença, nutricionista e colunista da Revista Questão de Ciência.
Referências (1) artigo “Diet pills and deception: A content analysis of weight-loss, muscle-building, and cleanse and detox supplements videos on TikTok”; (2) artigo “Qualidade das informações postadas no Instagram por influencers brasileiros em atividade física”; (3) artigo “Fluorinated Coumpounds in North American Cosmetics”; (4) artigo “Misplaced trust: When trust in science fosters belief in pseudoscience and the benefits of critical evaluation”.