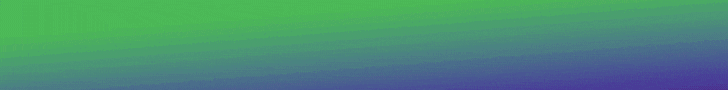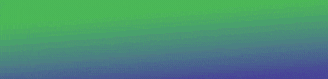Ricardo Arnt, Ricardo Bonalume Neto
O céu avermelhado na Serra da Barriga podia ser visto de longe, em Alagoas, no dia 6 de fevereiro de 1694. Era o fogo queimando Macaco, a capital do Quilombo dos Palmares. O incêndio extinguiu a resistência da confederação de escravos rebelados. Ali, eles conquistaram um século de liberdade. Zumbi, o último líder de Palmares, sobreviveu à queda de Macaco, mas foi emboscado e assassinado em 20 de novembro de 1695. A data é, atualmente, o “Dia da Consciência Negra” porque, para muitos brasileiros, a abolição dos escravos começou a acontecer muito antes do século XIX. E não tem a cara da Princesa Isabel
Por Ricardo Arnt e Ricardo Bonalume Neto
A escravidão no Brasil foi oficialmente abolida no dia 13 de maio de 1888, por uma lei que levava a assinatura da Princesa Isabel. Mas, três séculos antes disso, os escravos rebelados construíram um país independente onde se tornaram homens livres.
O país Palmares começou a surgir em 1597 e durou até 1694. Seu território se estendia por 150 quilômetros de comprimento e 50 de largura, nos Estados de Alagoas e Pernambuco, entre os rios Ipojuca e Paraíba. Era uma região de serras de até 500 metros de altitude, cobertas por florestas e de acesso muito difícil — principal razão da sua sobrevivência. Sua população variou muito em 100 anos. Os holandeses, que dominaram Pernambuco de 1630 a 1654, reconheciam em Palmares duas povoações, com 6 000 habitantes, no total. Mas depois de 1670, os relatos dos portugueses falam em mais de 20 000 habitantes. No auge, Palmares teve nove cidades, ou mocambos. Os historiadores divergem sobre esse número e sobre a localização das aldeias. A única conhecida, com certeza, é a capital, Macaco, na Serra da Barriga.
Em moldes africanos, a confederação constituía um Estado. Cada mocambo tinha seu chefe. Juntos, eles elegiam o rei do Quilombo. Em caso de ataques dos portugueses ou de expedições guerreiras para libertar escravos de engenhos e fazendas, as forças dos mocambos se uniam.
Palmares não abrigava apenas escravos fugidos. Era uma sociedade multirracial e miscigenada de negros, índios e até brancos pobres. Os ritos africanos conviviam com o catolicismo. Além de fabricar armas e ferramentas com a metalurgia trazida da África, os palmarinos plantavam milho, fumo, batata e mandioca. E faziam comércio com os vizinhos. A produção era trocada por munições, armas, sal, tecidos e ferramentas. Foram cem anos de convivência – em paz e em guerra.
Ainda hoje é difícil chegar à capital de Palmares. A estrada que leva ao topo da Serra da Barriga, onde ficava Macaco, a capital palmarina, é de terra. Ou melhor, de barro. Quando chove, carros sem tração nas quatro rodas ficam atolados. Mesmo assim, em menos de uma hora um viajante vindo do litoral consegue atingir a serra, passando por fazendas que, como acontecia há 300 anos, continuam, praticamente, a se dedicar apenas a uma cultura: cana-de-açúcar.
As primeiras expedições de ataque dos portugueses levavam um mês, a pé, para bater às portas de Macaco, atravessando o mato e subindo a serra. No final do século XVII, porém, as trilhas abertas a facão e percorridas pelos soldados cortaram o tempo para apenas dois dias. Com isso, foi possível transportar a vantagem tecnológica dos portugueses: o canhão. Laboriosamente arrastado por carretas puxadas por bois, foi ele que acabou com Macaco.
Os vestígios de Palmares estão debaixo da terra. Não há muralhas, casas de pedra ou monumentos. O que existe é modesto, mas revela bastante da vida dos negros: restos de vasos e jarras de cerâmica, vestígios de casas e de paliçadas, pedaços de armas. A pesquisa arqueológica está no começo, mas o que já se achou deixou os pesquisadores entusiasmados.
Em 1988, a Fundacão Teotônio Villela, de Alagoas, enviou a Macaco os arqueólogos Cleonice Mendonça e Carlos Magno, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o antropólogo Pedro Agostinho, da Universidade Federal da Bahia. Eles fizeram investigações de superfície, acharam restos de cerâmicas e identificaram, nas depressões circulares de uma pedra de afiar, uma oficina indígena de machados de pedra polida.
Em 1992 e 1993, o arqueólogo Pedro Paulo Funari, do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas e o americano Charles Orser Jr., da Universidade Estado de Illinois, fizeram escavações em Macaco. Acharam quatorze sítios arqueológicos (lugares especialmente promissores para as escavações e que, por isso, depois de demarcados, recebem esse nome). Treze desses sítios são do século XVII e um do final do XVIII. Desenterraram 2 448 cacos de cerâmica. Com o apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Alagoas, dirigido por Zezito de Araújo, Funari e Orser voltarão a Palmares no ano que vem.
Macaco era cercada por paliçadas. Teria três linhas de defesa, mais torres e baluartes, como uma fortaleza européia. Mas essa descrição pode muito bem ser exagero do inimigo, para glorificar sua vitória e conseguir maiores recompensas.
Esse é o problema: tudo o que se sabe sobre Palmares foi escrito pelos adversários, holandeses ou luso-brasileiros. Só os achados arqueológicos podem dar “voz” aos quilombolas, os habitantes dos quilombos.
Os arqueólogos acharam vestígios de uma pequena paliçada, no alto da serra. De acordo com Funari, o que se descobriu não tem a imponência necessária para ser a grande paliçada da capital, que deveria ficar mais abaixo do morro. Mas poderia fazer parte de um conjunto de obras de defesa. O fato de ter sido achada indica que há mais por ali.
Não se encontrou nada relacionado à batalha final, como madeira carbonizada, armas ou esqueletos. O solo ácido dificulta a sobrevivência de metais ou ossos. Mas há muitos fragmentos de cerâmica colonial grosseira, pedaços de cerâmica européia vitrificada e um grande vaso, quase intacto. “Pode ter servido para armazenar comida, seguindo a tradição banto, ou, talvez, para um funeral, supondo-se uma possível continuidade de práticas indígenas”, diz Funari.
Cerâmicas diversificadas indicam duas coisas: que havia pessoas, ali, fabricando-as, ou que elas foram compradas, ou roubadas. Pelos relatos, sabe-se que os palmarinos mantinham comércio com colonos luso-brasileiros vizinhos e que havia presença indígena no quilombo. “Os fragmentos cerâmicos, em particular, demonstram uma forte influência indígena e uma não menos perceptível mescla de estilos europeus, africanos e ameríndios”, analisa Funari. Para Orser, “um dos elementos-chave de Palmares foi seu caráter interno sincrético”. A arqueo-logia reforça a tese do pluralismo cultural de Palmares.
Onde há escravos, há revoltados. Desde o início da escravidão houve fugas de negros. Bastava uma chance. No Nordeste, o caos provocado pela invasão holandesa de 1630 permitiu um aumento generalizado das fugas. A essa altura, a população de Pernambuco, segundo o historiador Evaldo Cabral de Mello, era de 95 000 pessoas, dos quais 40 000 eram escravos. O historiador José Gonsalves de Melo, entretanto, trabalha com números menores: em 1647, um recenseamento holandês anotou apenas 7 900 habitantes, no Recife.
No início do século XVII, os negros vinham da costa da Guiné. A maioria eram sudaneses ocidentais, segundo o historiador Charles Boxer. Vinham com nomes que não indicavam a etnia, mas os portos de onde eram exportados: “minas”, “congos”, “benguelas”, “moçambiques” etc. Sem letra maiúscula. Por isso, é impossível, para os descendentes, saber quem eram.
Aos poucos, o tráfico concentrou-se no sudoeste da África, no Congo e em Angola, a região dos bantos. Em pouco tempo, os angolanos tornaram-se vitais para a agricultura colonial brasileira. Tanto assim que, quando os holandeses tomaram a cidade angolana de São Paulo de Luanda, partiu do Brasil a expedição que retomou Angola, em 1648.
Os escravos eram vendidos por chefes de tribos inimigas ou, como em Angola, os próprios portugueses invadiam o interior seqüestrando o que chamavam de “peças da Índia”. Pagava-se com a aguardente feita nos engenhos do Brasil. Os navios negreiros vinham superlotados. Boa parte da “carga” morria na viagem — daí o apelido sinistro dos navios: “tumbeiros”.
Havia dois tipos de escravos: os que trabalhavam nas plantações e os empregados domésticos. Dependendo do senhor, a vida de um escravo doméstico poderia ser menos terrível. Já os escravos empregados na colheita da cana trabalhavam até morrer. Eram os que mais fugiam. Qualquer sinal de rebeldia era punido. Depois de chicoteados, os fujões recebiam um coquetel de sal, limão e urina nas feridas.
A média de “vida útil” de um escravo de plantação não passava de cinco anos, diz o historiador Décio Freitas, autor de Palmares, a Guerra dos Escravos. Quando chegava aos 30, o negro já estava fisicamente liqüidado ou desqualificado para o trabalho, seja do canavial ou do engenho. Com isso, seu valor caía e era mais lucrativo para o senhor comprar outro, mais jovem.
Em vários momentos e regiões da vida colonial, os escravos eram a maioria da população. Por isso, as revoltas eram muito temidas. Para preveni-las, os senhores evitavam ter escravos da mesma origem, para que não pudessem conversar entre si. A palavra “boçal” era usada para designar o escravo que ainda não falava português. “Ladino” era o que falava a língua e podia ter algum ofício, como carpinteiro, ferreiro, vaqueiro. Os “ladinos” eram mais valiosos e mais bem tratados. Tinham menos interesse em fugir para um quilombo, no mato.
A escravidão despojava a condição humana dos escravos. Os negros perdiam a liberdade, a língua natal, os costumes e até a identidade, misturados a africanos de outros povos. Em Palmares, havia quilombolas de toda parte. Para conversar, usavam português misturado com palavras banto e termos indígenas.
Os escravos da diáspora negra perderam tudo, até a possibilidade de se reconhecerem, transplantados para um país estranho como zombies. Nos quilombos, ao menos, podiam viver por conta própria. Só muito mais tarde puderam reencontrar sua cultura de origem, na África.
A partir de 1670, os portugueses intensificaram as expedições contra Palmares. Mas as matas impediam manobras de cavalaria e não havia estradas para transportar canhões. Os negros fugiam das batalhas desfavoráveis e fustigavam os portugueses com operações de guerrilha e emboscadas.
Um relatório da época indaga por que a mesma gente “que pôde domar o orgulho de Holanda”, não conseguia derrotar os quilombolas. As explicações dadas: “a fome do sertão”, “o inacessível dos montes”, o “impenetrável dos bosques” e “os brutos que os habitam”.
A longa resistência levou as autoridades a propor conciliação. Em 1678, o governador de Pernambuco, Pedro de Almeida, ofereceu a liberdade a todos os nascidos em Palmares. O rei Ganga-Zumba foi ao Recife, aceitou o acordo e mudou-se para Cucaú, perto de Serinhaém. Mas o chefe Zumbi não aceitou a paz que excluía os fugitivos não nascidos na serra — embora ele mesmo fosse natural de Palmares. Segundo alguns autores, Zumbi mandou envenenar Ganga-Zumba, em 1680.
São poucos os dados biográficos comprovados do último rei de Palmares. Menino, ele foi capturado pela expedição de Brás da Rocha Cardoso, em 1655, e entregue ao padre Antônio Melo, que o batizou como Francisco. Teria aprendido a ler e sido coroinha. Em cartas, o padre comentou a inteligência do rapaz, que além de português, aprendeu o latim. Mas Zumbi não aceitou a escravidão e fugiu.
De volta a Palmares, dedicou-se à guerra. Assaltava fazendas e engenhos. Golpeava e fugia. Em 1694, quando os portugueses decidiram acabar com Macaco, criou um sofisticado sistema de paliçadas e fossos, repletos de paus pontiagudos. A decisão de resistir foi heróica — mas também errada. Ele achava que o inimigo não conseguiria trazer canhões morro acima. Mas o inimigo conseguiu.
A bravura de Zumbi virou lenda. Historiadores como Oliveira Martins, José Rocha Pombo, Sebastião Rocha Pita e Nina Rodrigues difundiram a versão segundo a qual, desesperado com a queda de Macaco, o rei e seus últimos guerreiros teriam se suicidado, precipitando-se de um penhasco, “preferindo a morte gloriosa ao cativeiro desonrante que os aguardava”, como escreveu Nina Rodrigues em Os Africanos no Brasil.
Na verdade, Zumbi foi ferido, sobreviveu ao fim de Macaco e continuou na guerrilha, com um pequeno grupo, até ser traído por um companheiro. No dia 20 de novembro de 1695 foi emboscado e morto. Sua cabeça foi espetada em praça pública, no Recife.
Os quadros de museus, os livros escolares e as estátuas de praças públicas mostram os bandeirantes como senhores patriarcais, com botas altas, casaco, chapéu, arcabuz e barbas brancas. Na verdade, os bandeirantes com esse aspecto eram raríssimos. Em sua grande maioria, eles eram mestiços pobres e maltrapilhos, que falavam mais tupi do que português e ganhavam a vida caçando índios em marchas extenuantes por territórios selvagens. Eram os temíveis “capitães do mato”. Um dos mais famosos, Domingos Jorge Velho, foi importado de São Paulo pelos pernambucanos para destruir Palmares.
Sua tropa era formada de 800 índios e 200 mamelucos e brancos, e estava “empregada” matando índios para fazendeiros e colonos do Piauí, quando Velho foi convidado a vir para Alagoas. Demorou um ano em marcha. No caminho, aproveitou para assaltar fazendas e roubar gado.
Quando chegou, o bispo de Pernambuco, D. Francisco de Lima ficou chocado e descreveu-o assim, numa carta: “Esse homem é um dos maiores selvagens com quem tenho topado. Quando se avistou comigo trouxe consigo intérprete, pois nem falar sabe. Não se diferencia do mais bárbaro tapuia. Lhe assistem sete índias concubinas e sua vida, até o presente, foi andar metido pelos matos à caça de índios e índias”. O governador de Pernambuco Caetano de Melo e Castro não deixou por menos e alertou o rei: “É gente bárbara, que vive do que rouba”.
Em janeiro de 1694, uma multidão se concentrou em Porto Calvo, nas Alagoas. Eram bandeirantes paulistas mercenários, civis recrutados em Alagoas e Recife, presidiários soltos para lutar contra Palmares e soldados regulares da milícia pernambucana. Entre eles, o Terço dos Henriques, o regimento criado pelo negro Henrique Dias, herói da resistência aos holandeses.
O historiador Affonso d’Escragnolle Taunay estima os atacantes de Palmares em 3000, mas, segundo Décio Freitas, eles eram 9 000 homens. O número é grandioso para a época: na segunda batalha de Guararapes, em 1649, a maior até então travada no Brasil, os luso-brasileiros tinham cerca de 5 500 homens, contra 4 200 holandeses.
Chegando em Macaco, toparam com uma sólida paliçada tríplice, projetada para fustigar atacantes de várias direções. Os manuais de sítio aos fortes europeus recomendavam aos atacantes escavar linhas oblíquas de aproximação. Como cavar não era possível em terreno tão escarpado, a solução foi fazer uma cerca de pau a pique para proteger a ofensiva.
No dia 23 de janeiro, tentou-se um ataque, em três frentes. Não deu certo. No dia 29, outra investida fracassou. No intervalo entre as duas, Jorge Velho pediu canhões ao governador Melo e Castro. No dia 3 de fevereiro, chegaram seis, número também grandioso, em tempos coloniais. Os canhões eram pouco móveis e, mesmo na Europa, eram raros em batalhas; pesadões e sem carretas adequadas, eram mais indicados para navios e fortalezas. As peças levadas para Palmares tinham pequeno calibre e disparavam bolas de ferro de até 3 quilos.
Para aproximá-los da paliçada, levantou-se uma nova cerca, correndo obliquamente, de modo a dar proteção contra os tiros dos flancos. A cerca subiu durante a noite. Quando raiou o dia 5 de fevereiro, Zumbi e seus guerreiros, já sofrendo falta de munição, viram que estariam perdidos se não contra-atacassem.
Foi o que fizeram, na escuridão da madrugada seguinte, aproveitando uma brecha na cerca inimiga, próxima a um penhasco. Mas o contra-ataque foi rechaçado. Na luta, muitos quilombolas, encurralados, caíram no despenhadeiro.
Pela manhã do dia 6, Velho ordenou o ataque final. Arrasada a paliçada pelos canhões, o resto foi massacre. Foram aprisionados 500 negros. Nos meses seguintes, as outras povoações, menos defendidas que Macaco, foram destruídas, uma a uma. Palmares sumiu do mapa.
Os descendentes dos quilombos tiveram um primeiro e tardio reconhecimento em 1988, quando comemorou-se o centésimo aniversário da também tardia libertação dos escravos. O artigo 216 da Constituição incluiu os remanescentes de quilombos como integrantes do patrimônio histórico do país e o artigo 68 das “Disposições Transitórias” garantiu o direito de propriedade dos descendentes de ex-escravos sobre as terras que ocupam, as chamadas “Terras de Pretos”. Nenhuma, entretanto, foi demarcada, até hoje.
A Fundação Palmares, do ministério da Cultura, cuida dos direitos dos quilombolas. Mas não se sabe quantos eles são nem quantos quilombos há. Calcula-se que existam 500, geralmente isolados em terras remotas, a maioria no Nordeste. A Fundação pediu 300 000 reais ao ministro da Cultura, Francisco Weffort, para realizar um mapeamento dos quilombos e delimitar, inicialmente, seis: Erepecuru e Trombetas, no estado do Pará, Rio das Rãs, na Bahia, Frechal, no Maranhão, Vale do Ribeira, em São Paulo, e Mocambo, em Sergipe. No dia 22 de agosto passado, foi publicada no Diário Oficial uma portaria estabelecendo os critérios antropológicos, fundiários e cartográficos para o reconhecimento das terras.
Em Alagoas, o antigo mocambo de Macaco, a velha capital de Palmares na Serra da Barriga, foi tombado em 1985, mas está praticamente abandonado. A secretaria de Cultura do Estado quer transformá-lo num Memorial de Palmares, com 2,58 quilômetros quadrados. Só para comparar, o campus da Cidade Universitária da Universidade de São Paulo tem 4,40 quilômetros quadrados. No alto do morro, hoje, moram posseiros que plantam roças de mandioca e feijão onde antes viviam escravos rebeldes. A ironia é que as plantações podem danificar eventuais peças de valor arqueológico debaixo da terra e atrapalhar a análise da disposição de casas e paliçadas antigas. Os posseiros estão na deles: cuidam bem de suas roças. O Brasil é que não cuida da sua memória.
Para saber mais:
Todos parentes
(SUPER número 3, ano 7)
Uma questão de inteligência
(SUPER número 2, ano 9)
Capoeira, o jeito brasileiro de ir à luta
(SUPER número 5, ano 10)
Cangaceiro idolatrado
(SUPER número 6, ano 11)
Índias com muitos maridos negros
Para os portugueses, os índios dividiam-se entre tupis e tapuias (todos aqueles que não falavam tupi e eram tidos como mais selvagens). Jogados uns contra os outros, eram empregados para guerrear contra outras tribos, holandeses, franceses e escravos fugidos.
Os negros bantos e sudaneses que vieram da África eram agricultores de vida sedentária que já conheciam a metalurgia. Em Palmares, fundiram-se com índios que viviam nas serras — provavelmente a nação dos kariris, que habitava o sertão nordestino desde o Rio São Francisco ao Piauí.
O antropólogo Pedro Agostinho, da Universidade Federal da Bahia, estima que nos primeiros contatos entre negros e índios, em Palmares, pode ter havido mortandade porque os indígenas não tinham resistência aos germes vindos das senzalas. Além disso, deve ter havido violência porque os negros tomaram índias como mulheres, já que as negras raramente fugiam. Há relatos sobre poliandria em Palmares — muitos maridos para uma só mulher.
A cultura política e a tecnologia dos negros garantiu-lhes a supremacia sobre os índios. Mas a miscigenação adaptou as gerações mestiças ao ambiente tropical. A arqueologia comprova que havia muitas índias em Palmares, pois os vasos indígenas são feitos por mulheres. Mas há outras fontes. Em 1644, por exemplo, a expedição do holandês Rodolfo Baro contra Palmares capturou 31 prisioneiros, “entre os quais sete índios e alguns mulatos de menor idade”.
A última batalha na Serra da Barriga
A capital de Palmares ficava no alto de um morro de 550 metros de altura, defendido por mato fechado. Do alto do morro, os quilombolas resistiram a inúmeros ataques.
O ataque decisivo
Os portugueses demoraram 22 dias para romper as defesas de Macaco. Uma paliçada oblíqua permitiu a aproximação dos canhões que destruíram as muralhas de madeira do mocambo.
Subindo por um flanco coberto de mato, os atacantes tiveram que ultrapassar fossos, espetos e as muralhas dos quilombolas.
As fortalezas européias tinham baluartes de forma triangular para que os soldados pudessem atirar para todos os lados. A paliçada da capital de Palmares era parecida. Na época, os portugueses atribuíram a sofisticação defensiva aos conselhos de um “mouro” que teria imigrado para Pernambuco e ajudado Zumbi. A vantagem tecnológica das armas, no entanto, decidiu o combate..

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 10 filmes “normais” com cenas de sexo reais
10 filmes “normais” com cenas de sexo reais Elétrons podem “voltar no tempo”, diz estudo
Elétrons podem “voltar no tempo”, diz estudo 4 segredos da Pixar no visual da Alegria em “Divertida Mente”
4 segredos da Pixar no visual da Alegria em “Divertida Mente”