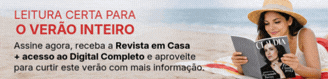Étnicas e religiosas.caldeirão fumegante
O risco de uma guerra estourar se multiplica por 10 nos países em que minorias étnicas são discriminadas pelo governo.
Texto Eduardo Szklarz
Nos últimos 20 anos, as guerras passaram por uma profunda transformação. A maioria delas já não ocorre entre países, mas dentro deles. As batalhas estão migrando cada vez mais das fronteiras para as cidades – e, em muitos casos, fica até difícil apontar quem é soldado e quem é civil. De todas essas guerras, as mais comuns são as provocadas por diferenças étnicas e religiosas.
O auge desse tipo de conflito ocorreu em 1991, ano marcado pelo colapso da URSS. Foi como se uma bomba-relógio tivesse finalmente explodido. Durante décadas, minorias de lealdades diversas haviam sido forçadas a viver dentro de fronteiras artificiais criadas por soviéticos na Europa Oriental e na Ásia, e por colonizadores europeus na África. Com o fim da Guerra Fria (e das amarras impostas por EUA e URSS), essas minorias irromperam em conflitos armados. Algumas foram motivadas por antigos ódios – na extinta Iugoslávia, por exemplo. Outras miravam o aparato do Estado – como na Somália. E outras ainda buscavam a separação – como ocorre na Chechênia. Em Ruanda e na Bósnia, conflitos étnicos acabaram se transformando em genocídios.
Por que explodem os conflitos
Diferenças étnicas e religiosas, contudo, nem sempre explicam uma explosão de violência. Para entender muitos desses conflitos, é preciso levar em conta outros fatores. “Guerras civis, étnicas ou não, ocorrem mais em países grandes, pobres, recentemente descolonizados e ricos em petróleo”, diz o cientista político James Fearon, da Universidade de Stanford, nos EUA.
Autor do estudo Ethnic Mobilization and Ethnic Violence (Mobilização Étnica e Violência Étnica), Fearon acredita que guerras étnicas são mais prováveis quando os grupos envolvidos encontram facilidade para se proteger em terrenos de difícil acesso – como os pashtuns do Afeganistão, que são maioria no Talibã. Para outro estudioso do assunto, o britânico Paul Collier, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, a possibilidade de acesso a recursos naturais também é fator determinante em muitos conflitos, pois cria oportunidades de extorsão – por parte de rebeldes ou governantes – e torna a rebelião mais atrativa.
De acordo com o Political Instability Task Force (PITF), grupo de especialistas americanos que analisou 66 guerras étnicas entre 1955 e 1994, ter vivido um conflito étnico prévio aumenta em 3 vezes a probabilidade de um novo choque. Se a população do país é muito jovem, a chance de uma guerra triplica também. E vale o mesmo para países em que a população é apenas moderadamente diversa – poucas minorias em vez de muitas. Em compensação, o fator de risco multiplica-se por 10 quando uma minoria é discriminada pelo governo. O Sudão reúne todos esses fatores (leia mais na pág. 24).
Israel, Palestina e Líbano também apresentam elementos marcantes desse tipo de guerra. Os conflitos entre eles em geral são extensos porque costumam empregar táticas de guerrilha, como os xiitas do Hezbollah. As minorias envolvidas pautam-se por ressentimentos e podem contar com co-etnias dominantes em países vizinhos, como acontece com os palestinos. Judeus e palestinos recebem o apoio das diásporas e sofrem a influência de fatores ideológicos. Além disso tudo, a violência torna-se ainda mais acirrada pelo extremismo religioso.
Quem pode mais chora menos
A maioria dos conflitos armados da última década ocorreu nos países em que as minorias étnicas compõem mais de 50% da população
8 mil mortos
Resultado do massacre de Srebrenica, em 1995, quando sérvios tentaram exterminar os muçulmanos da Bósnia.
183 mil mortos
Vítimas do ataque com armas químicas ordenado por Saddan Hussein contra os curdos do norte do Iraque, na década de 1980.
800 mil mortos
Saldo do genocídio de Ruanda, em 1994, cometido pela etnia hutu contra hutus moderados e tutsis.
Minorias mais ameaçadas
Elas podem desaparecer do mapa, vítimas de perseguição.
ROMAS (ciganos)
Onde – Europa
Por quê – Vítimas do Holocausto, continuam a ser acusados de inferioridade pelos europeus. Embora a violência física contra eles seja esporádica, sua situação é vulnerável.
HAZARAS
Onde – Afeganistão
Por quê – Xiitas em sua maioria, são alvo de ataques da etnia pashtun, à qual pertencem os sunitas do grupo Talibã. Há suspeitas de que os hazaras sejam leais ao vizinho Irã.
ANUAKS
Onde – Gambella (Etiópia)
Por quê – Viraram alvo dos soldados etíopes após reivindicar participação na exploração de petróleo. Gambella fica perto da fronteira com o Sudão.
CHECHENOS
Onde – Chechênia (Rússia)
Por quê – Travam uma guerra separatista contra os russos, que os perseguem desde a época dos czares. Muitos foram doutrinados pelo radicalismo islâmico.
FUR, MASSALIT E ZAGHAWA
Onde – Darfur (Sudão)
Por quê – O governo sudanês leva a cabo um genocídio contra essas tribos não-árabes. A matança é feita pelas milícias árabes Janjaweed.
Israel: alerta laranja
Região disputada por árabes e judeus pode explodir novamente com os recentes conflitos internos entre grupos palestinos
Texto Eduardo Szklarz
Nos últimos dois meses, o conflito árabe-israelense voltou a acender o alerta laranja – algo equivalente a uma situação de risco moderado a elevado – ao redor do mundo. A tensão entre os grupos palestinos Hamas e o Al-Fatah chegou a seu ponto crítico, consolidando a divisão da Palestina em duas entidades completamente distintas: Gaza (controlada pelo Hamas) e Cisjordânia (pelo Al-Fatah). Israel declarou oficialmente a Faixa de Gaza como uma “entidade hostil”. E o governo da Síria protestou – enquanto o resto do mundo árabe se calou – sobre uma suposta incursão aérea israelense em seu território, que muitos vêem como a ante-sala de um ataque conjunto de Israel e EUA ao Irã.
Para compreender esses acontecimentos recentes, é preciso levar em conta três grandes transformações do conflito ao longo do tempo: primeiro, ele passou da dimensão regional para a internacional; também deixou de ser laico para assumir um caráter religioso; e, por fim, já não tem apenas dois lados principais (israelenses contra árabes), e sim vários lados.
Quando começou, no início do século 20, a briga era essencialmente territorial. Judeus e árabes reivindicavam a Palestina – na época sob domínio inglês – para a construção de seu lar nacional. Com o acirramento dos confrontos, a ONU aprovou a divisão daquela terra em dois Estados: um judeu, outro árabe (palestino). Os judeus aceitaram o plano, mas a Liga Árabe não. Resultado: no dia seguinte a sua independência, em 1948, Israel foi invadido por exércitos do Iraque, Jordânia, Síria, Líbano e Egito, dando início à primeira das 6 guerras entre israelenses e países vizinhos. “Não foi pelos palestinos que os países árabes invadiram a Palestina em 1948. Cada um de seus líderes tinha suas próprias ambições territoriais e políticas”, escreve o diplomata israelense Shlomo Ben-Ami no livro Scars of Wars, Wounds of Peace (Cicatrizes de guerra, Feridas de Paz, sem tradução para o português). “Por ironia, se não foi a Palestina que os arrastou para a guerra, a guerra terminou arrastando-os para a questão palestina.”
Com o cessar-fogo, em 1949, Israel ficou com parte de Jerusalém e um território um pouco maior do que o planejado pela ONU. As zonas que seriam destinadas aos palestinos – Faixa de Gaza e Cisjordânia – ficaram nas mãos de dois países árabes, Egito e Jordânia, mas o Estado palestino acabou não sendo criado. Além disso, cerca de 700 mil palestinos tornaram-se refugiados nos países vizinhos.
Dois lados divididos
Durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, houve outra reviravolta: Israel conquistou a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, o resto de Jerusalém, a região das colinas de Golã (que pertencia à Síria) e a península do Sinai (território egípcio). Foi quando os religiosos judeus entraram em cena: evocando o Grande Israel dos tempos bíblicos, que ocupava toda a Palestina, eles convenceram o governo a construir assentamentos nos territórios ocupados. A partir daí, as diferenças entre laicos e religiosos criaram uma profunda divisão na sociedade israelense.
No lado palestino, uma divisão similar começou na década de 1980, com a rixa entre o partido Fatah e o movimento islâmico Hamas. Embora na época ambos buscassem a destruição do Estado de Israel, suas ideologias eram muito distintas. O Fatah seguia uma corrente mais secular da Organização para a Libertação da Palestina (OLP, fundada por Yasser Arafat em 1964). Já o Hamas tinha em seus quadros muitos integrantes da Irmandade Muçulmana, um movimento extremista preocupado em derrubar governos muçulmanos moderados e substituí-los por regimes baseados numa leitura radical da sharia – a lei islâmica.
Desde então, o extremismo religioso, o controle sobre Jerusalém Ocidental e Oriental (leia mais na pág. 23) e o problema dos refugiados vêm sendo os principais obstáculos ao processo de paz entre israelenses e palestinos. Ao mesmo tempo, a rivalidade entre Israel e os países árabes vizinhos tem passado para o segundo plano. Egito e Jordânia, inclusive, já firmaram acordos de paz.
Rivais palestinos
A última fase do conflito começou em 2005, quando o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, antigo linha-dura, surpreendeu com um pacote moderado: criou o partido de centro Kadima (hoje o principal de Israel), promoveu a retirada unilateral de Gaza e aceitou sair de amplas porções da Cisjordânia. A Palestina, porém, caminhou na direção contrária: o Hamas ganhou as eleições do Parlamento, em 2006, e o líder Ismail Haniyeh assumiu como primeiro-ministro. A tensão com o Fatah chegou ao ponto máximo em junho passado, quando milicianos do Hamas renderam seguranças da Autoridade Palestina e tomaram a Faixa de Gaza. Segundo o presidente Mahmoud Abbas, foi um autêntico golpe militar.
“O Fatah lançou um apelo urgente a líderes de governos árabes para que intercedam e tentem parar a luta, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos”, escreveu o jornalista árabe-israelense Khaled Abu Toameh no periódico Jerusalem Post. “Egípcios, sauditas e jordanianos, que até agora fizeram enormes esforços para acabar com a anarquia nas áreas palestinas, estão fartos dos palestinos.”
Quem tem se beneficiado com a crise é o Irã, que emergiu como potência regional no Oriente Médio após a derrubada de Saddam Hussein. Hoje, o país gera preocupação na ONU por seu plano nuclear, o apoio ao Hezbollah no Líbano e outros grupos terroristas, as armas que fornece aos xiitas radicais no Iraque e as declarações de seu presidente, Mahmoud Ahmadinejad, em favor da destruição de Israel (leia mais na pág. 60).
O próximo capítulo dessa história deve ser escrito ainda em 2007, numa conferência de paz patrocinada pelo Quarteto – EUA, Rússia, ONU e União Européia. O Hamas já pediu a todos os países árabes que não participem. Até o fechamento desta edição, apenas Jordânia e Egito tinham confirmado presença. Os outros governos estão calados, provavelmente com medo de que a iniciativa leve a uma nova onda de violência.
Quem luta contra quem em Israel e na Palestina
Israelenses e palestinos estão em pé de guerra desde 1948.
Adversários – Forças de Israel contra terroristas; Hamas contra Al-Fatah.
Desde quando – 1948
O que está por trás – Diferenças étnicas e religiosas, disputas territoriais e autonomia dos territórios palestinos.
Fogo Cruzado
Mais de 3 mil israelenses e palestinos morreram desde 2000.
2 228* Palestinos
1 024* Israelenses
63* Estrangeiros
* Setembro de 2000 a julho de 2007
Fonte: OCHA (Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários)
Conflito interno
Segundo a ONU, o número de palestinos mortos por causa da violência entre grupos rivais tem aumentado significativamente. Em 2005, 4% das mortes de palestinos resultaram do conflito interno. Em 2006, eram 17%. De janeiro a julho de 2007, a violência interna era a responsável por 65% das mortes palestinas.
Muro de proteção
Por outro lado, o número de mortes de israelenses caiu com a construção do polêmico “muro de proteção” ao longo da linha verde, na fronteira com a Cisjordânia. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores de Israel, o número de mortos por atentados terroristas caiu de 451 em 2002 para 30 em 2006. Os atentados suicidas também diminuíram: de 60 em 2002 para apenas 5 em 2006.
Análise
O nó do Oriente Médio
Não haverá paz na região com um novo “muro de Berlim” em Jerusalém
Texto Peter Demant
Sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas (cristianismo, islã e judaísmo), Jerusalém também é reivindicada como capital política tanto por Israel quanto pelo futuro Estado palestino independente. Existirá uma solução para esse impasse sem partilhar a cidade?
Vale lembrar que Jerusalém já é uma das cidades mais partilhadas do mundo. E imensas tensões permeiam suas comunidades. Entre os judeus, há grupos distintos, dos ultra-ortodoxos aos secularistas, todos eles com estilos de vida diametralmente opostos. Os palestinos, majoritariamente muçulmanos, incluem significativos bolsões de todas as igrejas cristãs. Adicione-se a esse quadro milhares de estrangeiros, entre diplomatas, jornalistas e expatriados. O resultado é uma miríade de comunidades com valores, costumes e preconceitos mútuos. Mesmo sem complicações políticas, a coexistência seria difícil.
A questão de Jerusalém fez naufragar mais de uma negociação de paz. Hoje, qualquer solução viável passa pelo crivo dos dois Estados, pressupondo a partilha do território entre Israel e Palestina e deixando de lado a proposta utópica de um só Estado, binacional. É claro que manter a situação como está – uma “unificação” formal de Jerusalém como “capital da nação judaica”, sob soberania israelense – é tão inaceitável para os palestinos quanto seria para Israel sua integração sob controle e monopólio islâmico. Tanto israelenses quanto palestinos consideram a presença política na cidade uma precondição para sua identidade coletiva. Não há solução possível sem reconhecer Jerusalém Ocidental como capital do Estado judeu, e Jerusalém Oriental como a dos palestinos. Ou seja: o contexto de duas capitais para dois Estados significa necessariamente alguma partilha administrativa.
No entanto, Jerusalém tem evoluído como uma cidade viva, mesmo sob controle unilateral israelense desde 1967. Ninguém busca sua divisão física, com um novo “Muro de Berlim”. A dignidade palestina exige uma bandeira árabe sobre a Porta de Damasco e o controle islâmico sobre a Esplanada das Mesquitas. Israel, por sua vez, nunca abandonará o Muro das Lamentações ou as populações judaicas dos bairros construídos em Jerusalém Oriental.
A melhor solução combinaria, portanto, elementos de uma gestão pública compartilhada – num único e hipotético “supermunicípio”, controlado democraticamente – com uma ampla autonomia cultural para as comunidades nacionais e religiosas. Os bairros de população judaica ficariam sob administração israelense, enquanto os bairros árabes estariam sob soberania dos palestinos. A cidade, porém, manteria sua unidade social e humana. Difícil de realizar? Sem dúvida, mas não impossível. Para alcançar a paz, os habitantes de Jerusalém – de todas as cores – deveriam sempre se lembrar do slogan criado por Theodor Herzl, pai do sionismo: “Se você quer, não é um sonho”.
Peter Demant é historiador, especialista em questões do Oriente Médio, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP) e autor de vários livros, entre eles O Mundo Muçulmano (Editora Contexto, 2004).
Sudão: crise humanitária
No maior país da África, tropas do governo e milícias árabes estão levando a cabo um genocídio contra tribos africanas que já matou 300 mil
Texto Eduardo Szklarz
O Sudão é o cenário da crise humanitária mais grave da atualidade, só comparável à da vizinha República Democrática do Congo. Desde 2003, o governo e suas milícias estão levando a cabo um genocídio contra as chamadas “tribos africanas” na província de Darfur, entre elas os fur, massalit e zaghawa. Segundo a ONU, o conflito já produziu 300 mil mortos e cerca de 2 milhões de refugiados.
Maior país da África, o Sudão é formado por 19 grupos étnicos principais e 597 subgrupos que falam mais de 100 dialetos. O Islã é a religião predominante no norte, enquanto o cristianismo e religiões tradicionais africanas (animistas) prevalecem no sul. A elite econômica da região norte sempre dominou o governo, deixando marginalizados os povos de todas as outras regiões. Resultado: desde sua independência, em 1956, o país viveu apenas 10 anos livre da guerra civil.
Governo x rebeldes
Um dos conflitos mais sangrentos teve início em 1983, quando o governo da Frente Nacional Islâmica engalfinhou-se com o Movimento de Liberação do Povo do Sudão (SPLM-A) e outros grupos rebeldes do sul. “Aproximadamente 2 milhões de pessoas morreram, 400 mil deixaram o país e outros 4 milhões perderam suas casas, formando a maior população de refugiados internos do mundo”, diz o historiador francês Gérard Prunier.
Em 2002, governo e rebeldes iniciaram um processo de paz que garantiu mais autonomia à região sul. Naquele momento, porém, outro conflito emergia na província ocidental de Darfur, onde os rebeldes também exigiam melhores serviços públicos. Para reprimi-los, o governo sudanês armou milícias “árabes” conhecidas como Janjaweed. Segundo a comissão da ONU que investigou a matança, as forças do governo e os Janjaweed realizaram ataques indiscriminados, tortura, êxodo forçado, estupro e outras formas de violência sexual.
“Centenas de vilas e pequenos povoados na região de Darfur foram absolutamente destruídos e queimados, para impedir que as pessoas que fugiram pudessem beber água caso voltassem”, diz o historiador americano Samuel Totten, especialista em genocídios da Universidade de Arkansas. Em 2004, Totten entrevistou dezenas de refugiados sudaneses no Chade, quando coordenava o Projeto de Documentação das Atrocidades de Darfur, a convite do Departamento de Estado americano.
Desde então, a comunidade internacional tem prestado ajuda humanitária às vítimas, mas pouco faz para conter o genocídio. Monitores e soldados da União Africana (UA) tentam contê-lo apenas estando ali, sem poder disparar ante as ameaças. “Em Ruanda também foi assim com as forças da ONU. Esperava-se que as pessoas ficariam com vergonha de matar e violentar na presença de estrangeiros. Não funcionou”, diz a cientista política Samantha Power, da Universidade de Harvard, nos EUA, autora do livro Genocídio (Companhia das Letras, 2004).
Pressões de Pequim
O Conselho de Segurança da ONU aprovou em julho de 2007 o envio de 26 mil homens para integrar uma força híbrida com a UA. Os efetivos devem chegar em dezembro, mas tampouco terão mandato para desarmar as milícias. Essa bela garantia ao governo de Cartum foi conseguida graças às pressões da China, que fez do Sudão seu principal projeto petrolífero no exterior. Pequim tem usado seu poder de veto no Conselho para evitar sanções ao governo sudanês – tudo em nome do petróleo. Também tem fornecido armas ao presidente al-Bashir, mesmo sabendo que elas são usadas no genocídio.
Nos últimos meses, centenas de refugiados sudaneses têm ingressado em Israel esperando encontrar melhores condições de vida. Para chegar lá, precisam atravessar mais de 1 000 quilômetros de deserto e se arriscar a receber balas das forças de segurança egípcias. Israel deu residência permanente a 500 deles, mas declarou no último mês de agosto que não vai aceitar mais refugiados. A decisão criou um grande dilema entre os políticos israelenses, já que o país foi criado justamente quando as nações de todo o mundo davam as costas aos judeus perseguidos. Enquanto nenhum outro país se candidata a recebê-los, o drama dos refugiados sudaneses não pára de crescer.
Quem luta contra quem no Sudão
Milícias, rebeldes e tropas oficiais estão envolvidos no genocídio.
Adversários – Tropas do governo, Janjaweed e outras milícias árabes contra grupos rebeldes (entre eles o Exército de Liberação do Sudão e o Movimento de Eqüidade e Justiça) e forças da União Africana (UA).
Desde quando – 2003
O que está por trás – Diferenças étnicas e religiosas, disputa por recursos naturais (principalmente petróleo, água e terras férteis).
Muito além da luta tribal
A violência no Sudão não é resultado apenas do choque entre aqueles que se denominam “árabes” e as chamadas “tribos africanas”. Para muitos analistas, a disputa por recursos naturais, como água e petróleo, ajuda a explicar o conflito. Até o aquecimento global vem sendo apontado como uma das causas para o genocídio. “O problema em Darfur começou com uma crise ecológica, gerada, pelo menos em parte, pela mudança climática”, escreveu o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, num artigo publicado no jornal americano Washington Post algumas semanas atrás.
Por essa lógica, a degradação da terra na região de Darfur exacerbou as tensões entre agricultores sedentários (“africanos”) e pastores nômades (“árabes”). Os pastores sempre passaram com seus camelos pelas terras dos agricultores. Mas quando o volume de chuvas começou a diminuir, na década de 1980, eles cercaram as terras com medo de que solo piorasse. A busca por terras férteis só tem agravado o conflito.
Análise
Fracasso anunciado
Sem autoridade para confiscar armas, Força de Paz da ONU não acabará com o genocício no sudão
Texto Cláudio Oliveira Ribeiro
Os graves problemas da região de Darfur, no Sudão, tiveram início na década de 1970 com uma disputa de território entre pastores nômades de origem árabe e agricultores negros. Apesar de estas duas comunidades compartilharem a fé islâmica, a tensão gerada pela luta por terras e recursos naturais evoluiu para uma guerra civil em 2003. Naquele ano, guerrilheiros negros responderam violentamente às hostilidades das milícias Janjaweed (africanos muçulmanos de origem árabe), acusadas de praticar limpeza étnica contra três tribos negras que apoiavam grupos rebeldes.
Em meio ao conflito, o governo do Sudão, baseado em Cartum, tem sido apontado com co-responsável pela tragédia, ao supostamente favorecer as milícias árabes. Estima-se que cerca de 300 mil civis já foram mortos – no conflito ou em conseqüência da fome e de doenças contraídas nos campos de refugiados – de 2003 até hoje. Mais de 2 milhões pessoas já deixaram o país, buscando refúgio no leste do Chade, país vizinho que tem uma configuração étnica semelhante à da população de Darfur.
Neste cenário, fica latente a incapacidade da ONU e da União Africana (UA) em pôr fim ao genocídio que está em curso. Embora a UA tenha claro em seu estatuto a possibilidade de intervenção em países onde ocorram crimes de guerra e contra a humanidade, sua competência gerencial tem sido posta em cheque diante da situação dramática daquela região. A ONU, por sua vez, mostrou-se lenta na decisão de instalar uma força “híbrida”, composta por 26 mil capacetes azuis e soldados da UA. Essa missão, com chegada a Darfur marcada para dezembro de 2007, não terá autoridade para confiscar armamentos ilegais, o que restringe sua capacidade de conter o massacre e assegurar o regresso de refugiados.
Acresce-se a estes problemas o fato de a China ser um dos maiores entraves ao processo de paz. Em troca da manutenção do fluxo de petróleo vindo do Sudão (especialmente da região em conflito), o governo chinês tem garantido o repasse constante de armamentos para as autoridades sudanesas. Como conseqüência, torna-se inviável um cessar-fogo. A partir de dezembro, quando tiver início a operação da ONU, Pequim certamente irá se posicionar em relação à missão – e talvez não o faça de maneira muito positiva.
Diante dessa realidade, Darfur simboliza uma guerra que tem como alvo central a população civil, e que se realiza por procuração. Frente ao receio de sanções internacionais, o governo sudanês nega seu envolvimento direto. Mas continua mantendo um programa de limpeza étnica por meio das milícias Janjaweed – apesar de aceitar as resoluções da ONU e da UA. Tal constatação leva a concluir que a possibilidade de instauração da paz ainda está bastante distante. Sem a necessária aprovação de sanções sobre o governo do Sudão, a mera chegada dos capacetes azuis da ONU, em dezembro, não será capaz de assegurar o auxílio necessário à manutenção da vida naquela região.
Cláudio Oliveira Ribeiro é professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e coordenador do Grupo de Estudos sobre África.
A divisão do mundo islâmico
Xiitas contra sunitas, Hamas contra Al-Fatah, radicais contra moderados…Afinal, o que provoca tanta discórdia entre os seguidores do Islã?
Texto Eduardo Szklarz
Poucos temas são tão debatidos quanto o suposto choque entre Ocidente e Islã. Mas basta um olhar mais atento para perceber que o grande choque da atualidade, na verdade, está acontecendo dentro do mundo islâmico. Os iraquianos estão se matando, o Hamas briga com o Al-Fatah na Palestina e o governo libanês trava uma luta de foice com o Fatah al-Islam. Afinal, qual é a explicação para esses conflitos?
Para começar, é preciso entender a diferença entre Islã e Islamismo. O Islã é a religião islâmica, seguida por cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo todo. Já o que especialistas costumam chamar de Islamismo é uma ideologia radical que vem crescendo desde os anos 1920, a partir do grupo egípcio Irmandade Muçulmana. Seus seguidores são os islamistas (popularmente chamados de fundamentalistas), como os dos grupos Hamas, Jihad Islâmica, Al Qaeda e Hezbollah. Embora tenham muitas divergências entre si, todos acreditam que o mundo islâmico tomou um caminho equivocado e pervertido. Os responsáveis por essa decadência seriam o Ocidente e líderes muçulmanos moderados. “Os islamistas se consideram os regeneradores do Islã”, diz o diplomata espanhol Gustavo de Arístegui, autor do livro El Islamismo contra el Islam (O Islamismo contra o Islã, sem tradução para o português).
Lista de ressentimentos
Durante mil anos o Islã foi uma potência mundial. “Seus seguidores partiram da Arábia, no século 7, e avançaram sobre o Oriente Médio, África, Europa, Índia e China, aliando a vanguarda da ciência ao maior poderio militar da Terra”, diz o historiador Bernard Lewis, da Universidade de Princeton, nos EUA. No século 17, porém, os ocidentais começaram a inverter a balança, com sucessivas vitórias sobre os exércitos de Alá. Em 1918, derrotaram o último símbolo do poderio islâmico: o Império Otomano. Franceses e britânicos colonizaram esse território e criaram ali países com fronteiras totalmente novas, como Egito, Síria e Jordânia.
Após a Segunda Guerra Mundial, esses países tornaram-se independentes e seguiram 3 caminhos distintos. “A Arábia Saudita se proclamou um Estado islâmico, governado pelo Alcorão, enquanto a Turquia, único vestígio do Império Otomano, optou por ser um Estado laico e ocidentalizado”, explica o pesquisador americano John Sposito, da Universidade de Georgetown, também nos EUA. “A maioria dos outros países ficou numa posição intermediária, modelados por padrões ocidentais e com regras islâmicas superficiais.”
Em pouco tempo, as jovens nações árabes foram dominadas por ditadores como o egípcio Gamal Abdel Nasser, que proibiu a Irmandade Muçulmana e executou seus líderes. Àquela altura, no entanto, o grupo já tinha remificações em diversos países muçulmanos, onde a opressão e as más condições de vida criavam um ambiente propício para o radicalismo. “Hoje, muitos radicais justificam os horrores que cometem recitando uma lista de ressentimentos contra o Ocidente, que inclui as cruzadas, o colonialismo europeu e a criação de Israel”, diz Sposito. “A isso adicionam causas atuais, como a Intifada palestina, a presença de tropas americanas no Golfo e a Jihad [guerra santa] de liberação na Caxemira e na Chechênia.”
Radicais x Moderados
Os principais alvos dos islamistas são os próprios governantes moderados dos países muçulmanos, considerados corruptos e impostores. Eles querem derrubá-los e instalar governos baseados na sharia – a lei islâmica. Já tiveram sucesso no Irã, com o aiatolá Khomeini, no Sudão, com o ideólogo Hassan al-Turabi, e no Afeganistão, com os mulás do Talibã. Em outros lugares, usam o terrorismo para propagar o caos. Isso explica os atentados em lugares como Indonésia, Argélia, Egito, Filipinas, Bósnia e Xinjiang, na China. Explica também os combates no Líbano entre o governo moderado e o grupo fundamentalista Fatah al-Islam, assim como a disputa feroz travada na Palestina entre o Al-Fatah (laico) e o Hamas (islamista).
A divisão entre radicais e moderados combina-se com a divisão entre sunitas (cerca de 90% dos muçulmanos) e xiitas (10%). Cada lado tem sua teoria sobre os descendentes legítimos do profeta Maomé. Exemplos: o Hezbollah é xiita, enquanto a Al Qaeda é sunita. O conflito entre as duas vertentes é alimentado com dinheiro do petróleo por duas forças rivais: Irã (xiita) e Arábia Saudita (sunita). O Irã patrocina grupos terroristas como o próprio Hezbollah. Já a monarquia saudita assume um papel dúbio. Por um lado, aceita bases americanas em seu território. Por outro, fomenta uma versão extremista dos islamismo sunita conhecida como wahhabismo.
 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO