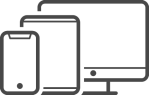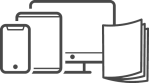O que foi o movimento pan-africano?
Ele ajudou a imaginar o continente como uma força em comum – e mobilizou a luta pela independência. Conheça alguns de seus maiores ícones.

Em outubro de 1945, 90 representantes de diferentes partes do mundo se dirigiram a Manchester, na Inglaterra, para debater o futuro da África. Estava longe de ser a primeira vez que uma reunião na Europa discutia a vida do continente vizinho, mas, agora, os próprios africanos – ou seus descendentes nascidos em outras partes – é que tinham a palavra. Começava ali o 5º Congresso Pan-Africano.
Embora não costume ser muito recordada fora dos círculos de especialistas, essa seria uma das reuniões mais importantes do século 20, responsável por mudar (mais uma vez) os rumos de um continente inteiro.
Na cinzenta cidade industrial britânica, foram definidas e fortalecidas as ideias que levariam ao fim da era colonial: nas três décadas seguintes, inflamados pelas ideias pan-africanistas, movimentos contrários ao domínio europeu lutaram e conquistaram a independência em mais de 50 países da África e também do Caribe, cuja história era profundamente marcada pela escravidão.
Quando essas lideranças negras de dentro e de fora da África se encontraram no congresso de 1945, a 2ª Guerra mal havia terminado. A Alemanha foi derrotada em abril, e o Japão finalmente se rendeu em meados de agosto, após lutar de forma incansável e ser dobrado pelas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki.
No front europeu, pela segunda vez em 30 anos, africanos saídos das colônias haviam sido convocados a lutar pela metrópole, em nome da nação que os dominava. E, assim como ocorrera na 1ª Guerra (1914-1918), os sobreviventes reencontraram um velho cenário após o último tiro de fuzil ser disparado: os africanos até podiam ter a mesma importância do que os brancos na hora de morrer lutando, mas, na vida cotidiana, seguiam sendo tratados como cidadãos de segunda classe.
As guerras eram um duro choque de realidade para quem nascia nas colônias. Não só os jovens eram alistados para defender uma nação que muitos consideravam opressora,, como chegando ao Exército, também era comum que fossem considerados inferiores aos soldados brancos.
Além do preconceito sentido na pele, os desentendimentos entre as potências europeias ainda deixavam legados palpáveis na rotina da África – mesmo que as brigas dos colonizadores pouco tivessem a ver com os problemas locais. Após a 1ª Guerra, por exemplo, grandes pedaços africanos que pertenciam à derrotada Alemanha passaram às mãos de países que venceram o conflito, como ocorreu com os protetorados germânicos de Camarões e do Togo, divididos entre franceses e britânicos já na metade do combate, em 1916.
Na reunião de Manchester, o objetivo era chamar a atenção para essa realidade – a África não queria mais ver, impotente, suas fronteiras e seus governos mudando pela vontade de potências distantes. Também queriam lembrar aos vencedores da guerra que, enquanto diziam lutar pela liberdade contra Hitler, eles próprios continuavam cerceando a autonomia de outros seres humanos não muito longe dali.
“África para os africanos, em casa e no exterior”, havia bradado o intelectual jamaicano Marcus Garvey, alguns anos antes. Agora, com o trauma da guerra ainda latente e as nações da Europa enfraquecidas e cheias de dívidas, era o momento ideal para virar a página do colonialismo e deixar que os africanos governassem a si mesmos.
Uma mesma força
Hoje, é fácil pensar na África como um conjunto de países que, por mais diferentes que sejam uns dos outros, guardam forte identificação entre si. Mas nem sempre foi assim. A ideia de nações e continentes que temos hoje é uma exportação europeia e, por muito tempo, o que prevaleceu em solo africano foram reinos relativamente autônomos, que não se viam em termos de mapas e fronteiras, mas a partir da língua, da religião ou da etnia – ora colaboravam entre si, ora guerreavam, escravizavam os rivais e até os vendiam para os europeus.
Ativistas da liberdade
As principais lideranças que ajudaram a redesenhar a história do continente africano.
O que hoje imaginamos como África começa a se formar fora dela. Primeiro, como uma visão exótica dos colonizadores sobre um continente misterioso, de interiores difíceis de explorar – eternizada em clássicos da literatura como O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Mais tarde, essa imagem passou a ser complementada pela nostalgia de africanos e descendentes levados à força para outras partes do mundo, que compartilharam sua cultura e suas memórias nas novas terras.
São os membros dessa diáspora que começam, no exterior, a se unir em torno de bandeiras em comum – inicialmente, o fim da escravidão. A partir do século 18, antigos escravos libertos que tiveram a oportunidade de estudar passam a integrar a linha de frente de movimentos intelectuais e políticos, como o Sons of Africa (“Filhos da África”, em inglês), de Londres, que passaram a pressionar por leis abolicionistas na Inglaterra e em suas colônias das Américas e do Caribe.
Quando a abolição ganha força e as últimas alforrias são concedidas no Novo Mundo, o embate passa a ser outro: isso porque, conforme o tráfico negreiro foi sendo extinto, a Europa tratou de dividir o continente vizinho na Conferência de Berlim, inaugurando um novo modo de lucrar ainda mais com a África. Agora, os descendentes de africanos tinham um adversário ainda mais poderoso pela frente: o colonialismo em seu próprio continente.
O pan-africanismo passou a bradar pela união política e social entre aqueles que descendiam de africanos, onde quer que estivessem, buscando pôr um fim à opressão europeia. Idealizado e difundido por intelectuais negros nas Américas, no Caribe e na própria África, o movimento começou a ganhar seus contornos no início do século 20. As correntes pan-africanistas se dividiam quanto à maneira de lutar pela autodeterminação do continente, mas partiam sempre de um mesmo princípio – o mais importante era a identificação com as terras ancestrais.
O jamaicano Marcus Garvey, por exemplo, foi um dos mais influentes intelectuais do movimento e nunca chegou a pisar na África. Outros, como W. E. B. Du Bois, nascido nos Estados Unidos e falecido em Gana, chegaram a fazer a viagem de retorno. Independentemente da geografia, suas ideias ressoaram por décadas, inspirando desde o norte-americano Malcolm X ao “Che Guevara africano”, Thomas Sankara, em lutas pelos direitos dos negros e pela independência das nações do continente.
Malcolm X (EUA, 1925 – 1965)

Ao lado de Luther King, Malcolm X foi um dos mais proeminentes líderes do movimento pelos direitos civis dos negros norte-americanos. Polêmico, era acusado de promover a violência contra os brancos. Entre suas ações, fundou a Organização pela União Afro-Americana, que buscava levar adiante as ideias pan-africanistas nos EUA. Foi assassinado aos 39 anos.
W.E.B. Du Bois (EUA, 1868 – 1963)

Primeiro negro a obter um doutorado em Harvard, Du Bois foi um dos principais intelectuais do movimento pan-africanista. Contrariando autores como Garvey, defendia a igualdade racial pela integração e não pelo “separatismo”: Du Bois entendia ser possível brancos e negros se desenvolverem em um mesmo país e não em nações separadas. Em 1909, fundou a NAACP (Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor), para dar suporte jurídico a negros em processos que ajudaram a acabar com as leis segregacionistas.
Henry Sylvester Williams (Trinidad e Tobago, 1869 – 1911)

Nascido em Trinidad e Tobago e formado nos EUA, foi na Inglaterra que fundou a Associação Africana, com o objetivo de combater o racismo e o imperialismo. Também se tornaria o primeiro negro a advogar na Colônia do Cabo, na atual África do Sul. Quase 20 anos antes do 10 Congresso Pan-Africano, organizou uma conferência sobre o tema em Londres.
Marcus Garvey (Jamaica, 1887 – 1940)

Um dos principais pensadores do pan-africanismo, Garvey defendia um “fundamentalismo africano” – a ideia de que os descendentes da diáspora negra, filhos e netos de antigos escravizados, deveriam se unir, não importando onde vivessem, para acabar com o colonialismo europeu. Suas ideias influenciaram movimentos como o Black Power, nos EUA, e o rastafári, na Jamaica.
Kwame Nkrumah (Gana, 1909 – 1972)

Prometendo melhorar as condições de vida dos mais pobres, Nkrumah foi eleito presidente de Gana em 1960, três anos após a independência do país. Suas ideias socialistas não caíram bem em parte da elite política ganesa e ele acabou deposto em 1966. Amigo de Ahmed Sékou Touré, viveu seus anos finais na Guiné, onde foi nomeado “copresidente” honorário.
Ahmed Sékou Touré (Guiné, 1922 – 1984)

Um dos líderes na conquista da independência diante da França em 1958, foi o primeiro presidente da Guiné, governando de forma ditatorial até morrer, em decorrência de um infarto. Também ajudou a financiar as guerrilhas que lutaram para encerrar o colonialismo português na vizinha Guiné-Bissau e no Cabo Verde.
Thomas Sankara (Burkina Faso, 1949 – 1987)

Com uma plataforma anti-imperialista, o jovem guerrilheiro, conhecido como o “Che Guevara africano”, liderou uma revolução popular que tomou o poder no Alto Volta em 1983, mudando o nome do país para Burkina Faso (“terra das pessoas íntegras”, na língua local). Nacionalizou terras e riquezas minerais e foi rapidamente combatido pelas classes altas e médias e setores conservadores do Exército. Em 1987, foi derrubado por um contragolpe e assassinado.
Percalços
No início, os Congressos Pan-Africanos foram sempre realizados fora da África – em parte para chamar atenção dos poderes coloniais, mas também porque boa parte dos pensadores vivia fora dali. A primeira, em 1919, aconteceu em Paris. Nas seguintes, Londres, Bruxelas e Nova York se juntaram à lista de sedes. Depois da quinta e mais importante reunião, a de 1945, a sexta conferência demoraria quase 30 anos: só ocorreu em 1974.
Mas, quando o novo congresso veio, enfim aconteceu em uma república africana independente – a Tanzânia. Era um reflexo de tudo o que havia mudado desde o último encontro. Naquelas três décadas, o domínio direto da Europa foi praticamente varrido por completo da África. E não era para menos: alguns dos líderes das revoltas haviam comparecido pessoalmente aos debates de Manchester. Estiveram lá, entre outros, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta e Hastings Banda – que conduziram, respectivamente, Gana, Quênia e Malauí rumo às suas independências.
A partir dos anos 1960, conforme as antigas potências coloniais foram sendo afastadas da África, muitos líderes identificados com o pan-africanismo levaram suas bandeiras um pouco além: a luta contra o imperialismo passou a se mesclar com uma derrubada do modelo capitalista. Neste momento, a União Soviética entrou em cena, financiando governos e guerrilhas pelo continente – e os Estados Unidos não ficaram atrás, também tentando manter suas zonas de influência na região. Em poucos anos, muitos heróis da independência africana acabariam se tornando conhecidos, também, como brutais ditadores aliados a algum dos lados da Guerra Fria.
As ideias que levaram à independência ganham corpo na Organização pela Unidade Africana, fundada em 1963. Hoje chamada União Africana, ela segue funcionando na Etiópia para discutir e representar os interesses conjuntos do continente. Mas a utopia pan-africanista ainda tem um longo caminho para concretizar as ambições originais de uma plena autonomia da África: os europeus se retiraram oficialmente e as potências estrangeiras mudaram ao longo dos anos, mas o resto do mundo continuou com grandes interesses na região. Fosse pelas mãos dos soviéticos, norte-americanos ou, mais recentemente, dos chineses, a dependência econômica da África nunca chegou ao fim.



 Risco de depressão e outras doenças mentais aumenta após Covid-19 grave
Risco de depressão e outras doenças mentais aumenta após Covid-19 grave Corvos guardam rancor de humanos – e podem se vingar até 17 anos depois
Corvos guardam rancor de humanos – e podem se vingar até 17 anos depois Matemáticos querem criar dois novos numerais. E você teria que reaprender a contar.
Matemáticos querem criar dois novos numerais. E você teria que reaprender a contar. Cientistas acham girino mais antigo do mundo, com 161 milhões de anos de idade
Cientistas acham girino mais antigo do mundo, com 161 milhões de anos de idade Animais bêbados: consumo de álcool é frequente na natureza, revela estudo
Animais bêbados: consumo de álcool é frequente na natureza, revela estudo