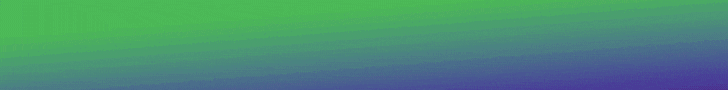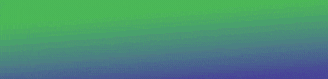Fundação de Asimov, a ficção científica de humanas, virou série na Apple TV
Antes de assistir à adaptação audiovisual – aguardada há décadas pelos fãs – entenda do que falam os livros originais.

“Fundação”, de Isaac Asimov, é uma saga de ficção científica. Mas as ciências, nesse caso, são humanas. O enredo gira em torno de Hari Seldon, uma espécie de economista ou sociólogo capaz de prever o destino de civilizações inteiras com a mesma precisão com que um meteorologista calcula a dança das massas de ar na atmosfera.
Seldon não faz isso estudando individualmente o destino de cada ser vivo. Ele não é um cartomante. Ainda que fosse, não seria um método prático: os livros de Asimov se passam num imenso Império Galáctico, que governa centenas de planetas e tem um número de habitantes na casa dos trilhões. Não haveria computador capaz de calcular tantos futuros em tempo hábil.
Seria uma tática tão ineficaz quanto descobrir o tempo de amanhã estudando cada uma das moléculas de oxigênio, nitrogênio ou gás carbônico que compõem a atmosfera. Quando amanhã chegasse, você ainda estaria na segunda ou terceira molécula da lista, e uma massa de ar possui mais moléculas do que o número de estrelas no Universo observável.
É por isso que, no século 19 da vida real, os físicos inventaram a mecânica estatística – que usa a teoria das probabilidades para descrever o comportamento de um enorme conjunto de partículas sem precisar pelo estágio intermediário de determinar o que cada uma delas fará sozinha.
Seldon fez algo parecido na ficção: a ciência que ele criou, batizada por Asimov de psicohistória, prevê o destino de conjuntos de humanos. Esse destino coletivo é como uma média dos destinos individuais, que desconsidera flutuações irrelevantes da vida privada. É a mecânica estatística aplicada a pessoas em vez de moléculas.
Fundação se passa 10 mil anos no futuro. É provável que, no mundo real, nem dez milênios fossem suficientes para tornar as ciências humanas tão exatas quanto as exatas – esse é um vespeiro delicado, motivo de muita discussão em mesas de bar e universidades. (O economista Paul Krugman, que ganhou o Nobel da área em 2008, escolheu a carreira porque leu Asimov e queria ser um psicohistoriador.)
Usando a psicohistória, Seldon descobre que o Império Galático, após milênios de prosperidade, vai entrar em colapso – e que nessa altura do campeonato, não há nada que possa impedir o desenrolar dos acontecimentos. O único caminho plausível é atenuar a Idade Média que se aproxima, reduzindo sua duração de 30 mil para “apenas” mil anos, e permitindo que uma sociedade próspera renasça das cinzas antes do esperado.
Asimov tirou a ideia do livro Declínio e Queda do Império Romano, obra-prima do historiador Edward Gibbon que é um marco na literatura da área. George Lucas, por sua vezes, provavelmente bebeu da fonte de Asimov para criar o Império Galático de Star Wars, coisa que o próprio Asimov falava sem pudor (nem mágoa) em entrevistas. Isso aqui é um trechinho do autor em 1989, já idoso, no talk show de Dick Cavett:
“Se você assistir a esses filmes, Star Wars e suas continuações, há uma certa quantidade de coisas que vieram dos meus livros da Fundação. Mas caramba, uma certa quantidade de coisas da Fundação veio do livro de Gibbon sobre o Império Romano. O quanto você quer voltar para trás? É assim que as coisas funcionam.”
De volta ao enredo. Seldon sabe que a psicohistória só funciona caso as pessoas não saibam que seu destino está previsto. É claro: se elas souberem, tentarão agir de modo a mudar o desenrolar dos acontecimentos, e aí as previsões param de valer. Por isso, Seldon precisa dar um jeito de guiar a civilização através do colapso sem que a civilização saiba que está sendo guiada. Manipular um futuro que está disposto a ser manipulado, sem que esse futuro note a manipulação. Difícil.
Mas é claro que piora. A experiência brasileira na pandemia de covid-19 mostra que governantes com tendências antidemocráticas não gostam de ouvir cientistas e não dão bola para dados. Com isso em mente, os livros Asimov, escritos na década de 1950, ganham um toque presciente: Seldon é perseguido pelo governo após revelar suas descobertas – e é obrigado a bolar um plano secreto para salvar o mundo, porque as autoridades só estão interessadas em cortar sua cabeça.
O plano é a tal Fundação do título. Um grupo de enciclopedistas que vai se esconder em dois planetas isolados em cantos opostos da Via Láctea e guardar todo o conhecimento da humanidade em uma vasta Wikipedia, para que esse material esteja disponível às gerações que carregarem o fardo de reconstruir a civilização colapsada. De tempos em tempos, esses acadêmicos recebem mensagens póstumas de Seldon, com instruções friamente calculadas para levá-los a agir exatamente da maneira que psicohistória exige.
Os livros da Fundação são conhecidos pelos diálogos longos e uma complexidade digna da primeira temporada de Game of Thrones: muita política, pouco quebra-pau. Muitas batalhas importantes ficam subentendidas. Além disso, Asimov não é um autor dos mais acessíveis – muitas cenas começam in medias res (ou seja, você pega o bonde andando em vez de iniciar cada capítulo do começo cronológico). É comum passar algumas páginas boiando até sacar o que está acontecendo.
A complexidade do livro também é seu fascínio. Uma vez que o leitor se acostuma com o ritmo e o jeitão antiquado de Asimov, chega a ser bonito ver as previsões de Hari Seldom se concretizarem – e nós passamos a aguardar ansiosos a aparição da próxima mensagem. Arthur C. Clarke dizia que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia, e Seldom acaba se tornando isso: um Oráculo com ares sobrenaturais.
A questão, agora, é saber se a Apple TV+ respeitou e atualizou o tom filosófico dos livros originais – transformando a série num comentário ácido sobre a relação entre líderes autoritários e ciência no século 21 –, ou se prefiriu emburrecer a obra e torná-la apenas uma desculpa para fazer batalhas espaciais épicas. Nada contra batalhas especiais épicas, é claro. Eu vivo por elas. Mas Asimov merece mais neurônios. E GoT é a prova de que o público gosta de neurônios.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Quadro de Jesus Cristo perdido há mais de 400 anos é encontrado em Paris
Quadro de Jesus Cristo perdido há mais de 400 anos é encontrado em Paris Por que os cachorros cheiram o traseiro uns dos outros?
Por que os cachorros cheiram o traseiro uns dos outros?