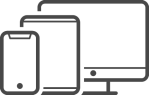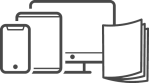As músicas de antigamente eram melhores?
Não, só diferentes. Mas essa é uma ilusão comum. Conheça a psicologia por trás do gosto musical – que tende a se fixar na juventude. E entenda o que realmente mudou na indústria pop dos anos 1950 até hoje.

reportagem: Rafael Battaglia | texto: Bruno Vaiano | design e colagens: Caroline Aranha
Em 1861, sete estados escravagistas do sul dos Estados Unidos se rebelaram contra o resto do país, que queria a abolição. Começava a Guerra de Secessão. Durante o conflito, um mal-estar peculiar se espalhou pelas trincheiras. Conta-se que ele atingiu 5 mil soldados e matou 73. Os sintomas eram melancolia e saudade de casa. Algumas mortes foram suicídios; outras ocorriam porque as vítimas, de tão deprimidas, ficaram com a imunidade debilitada.
Dois séculos antes, do outro lado do Atlântico, o médico suíço Johannes Hofer já havia notado algo parecido em militares ou funcionários públicos que estavam havia meses ou anos longe de casa. Em 1688, ele batizou esse problema de “dor pelo retorno”. Só que do jeito favorito dos acadêmicos: em grego.
Na língua de Ulisses, a volta de um herói para casa é chamada de nostos (νόστος), enquanto a palavra “dor” é algos (ἄλγος). Junte os dois e temos nostalgia. Do mesmo jeito que uma dor nos músculos é uma mialgia, e nos nervos, uma nevralgia.
Até o século 19, a nostalgia foi tratada como doença psiquiátrica – e a psiquiatria, nessa época, frequentemente era sinônimo de tortura e bullying: os médicos colocariam sanguessugas na sua pele ou receitariam choques elétricos ao menor sinal de melancolia.
Nosso entendimento de transtornos mentais melhorou um bocado desde então. Mas uma coisa permanece igual: a música é um gatilho dos nostálgicos. Durante a Guerra dos Trinta Anos, que rolou na Europa no século 17, havia pena de morte para quem cantasse uma melodia folclórica intitulada “Khue-Reyen”. Essa cantiga, que costumava acompanhar a ordenha de vacas nos Alpes, desestabilizava os militares que cresceram ouvindo a família cantá-la.
Em 1989, dois pesquisadores das universidades Columbia e Rutgers, ambas nos EUA, determinaram que as nossas músicas favoritas são lançadas, em média, quando temos 24 anos. A maioria de nós curte as canções da infância, é maluco pelos hits da adolescência e juventude e vai odiando, cada vez mais, tudo que vem depois.
Esse estudo foi replicado em várias ocasiões desde então. Sua versão mais recente, publicada em 2022, entrevistou pessoas entre 18 e 84 anos e chegou a uma idade de aproximadamente 17 anos para o pico das nossas preferências (veja o gráfico abaixo).

Esse é o momento em que nosso cérebro está mais aberto a experiências e aprendizados, e mais interessado em tecer relações sociais – que são frequentemente mediadas por música, já que adolescentes se organizam em tribos e consideram socialmente valioso se manterem atualizados em relação às novidades.
Na juventude se formam nossas lembranças mais vívidas e numerosas (vide um fenômeno chamado reminiscence bump – o grosso das memórias importantes se concentra na juventude). “Há um componente afetivo muito forte, que faz com que pessoas da minha geração acreditem que certas bandas dos anos 1980 eram ótimas – e não eram (rs)”, diz o jornalista e crítico Sérgio Martins, da Billboard.
Para piorar, a passagem do tempo dá uma mãozinha nessa ilusão. Artistas bons sobrevivem – enquanto os ruins, naturalmente, acabam esquecidos. “Nos anos 1990, para cada Mamonas Assassinas, você teve vinte Brownie e seus Pentelhos”, diz Sérgio.
Nós lembramos dos Mamonas, e deixamos os Pentelhos convenientemente para trás. Esse filtro, porém, precisa de tempo. Em geral, não dá para saber quais artistas contemporâneos serão clássicos e quais serão esquecidos. Boas canções sempre foram agulhas no palheiro (e com 100 mil faixas novas por dia no Spotify, põe palheiro nisso).
Outro dos cavaleiros do apocalipse nostálgico é o fato de que nosso cérebro gosta da zona de conforto. Adoramos satisfazer expectativas, e quando nos acostumamos às convenções de um certo estilo musical, nos sentimos menos predispostos a insistir em outros estilos.
“O nosso cérebro gosta dessa facilidade em detectar padrões. E os padrões sonoros têm um efeito de prazer”, diz o neurocientista Gabriel Rego, professor da Universidade Mackenzie.
Na transição dos anos 1980 para os 1990, a ascensão do rap gerou uma mudança estilística significativa no pop mainstream. Em muitos hits, o foco saiu das melodias e passou para as letras e o ritmo, enquanto o uso de samples (trechos de outras músicas repetidos em loop pelos DJs) tirou os músicos de campo.
Quem cresceu com esse gênero é fã das suas possibilidades criativas – mas fãs de Beatles podem não digeri-las tão bem. Somos ruins em aceitar mudanças, e isso fica claro quando olhamos para trás e vemos a história se repetir: o lendário crítico José Ramos Tinhorão, nascido em 1928 e uma enciclopédia ambulante da música popular, dizia ter pena de Tom Jobim, e o acusava de não fazer música brasileira autêntica.
Ou seja: a música de “antigamente” – seja lá qual década é o seu antigamente – nunca foi objetivamente melhor que a atual. Toda geração teve dificuldade em aceitar as inovações da próxima.
Mas uma coisa é fato: desde que a indústria da música pop se estabeleceu da forma como a conhecemos – o que ocorreu principalmente após a 2ª Guerra –, nosso jeito de compor, gravar e lançar álbuns mudou em um ritmo frenético. Vamos entender por que é tão difícil acompanhá-lo.

Linha de produção
Uma mudança importante é que a participação dos produtores na composição das faixas aumentou um bocado. Produtores são profissionais que supervisionam gravações e têm várias facetas: aperfeiçoam as composições, garantem a consistência estilística entre as faixas de um álbum, montam arranjos, cuidam de minúcias técnicas com o engenheiro de som…
Eles sempre existiram. Vide a relação entre Liminha e os Titãs. Mas a participação desses profissionais na composição nunca foi tão grande como é hoje.
De acordo com um levantamento do site The Pudding, entre 1985 e 1989, apenas 19% dos hits top 5 da Billboard tinham o produtor nos créditos de composição. Entre 2010 e 2014, por outro lado 43% dos hits tiveram mão dos produtores.
O número de assinaturas por canção também aumentou. A maioria das músicas no final dos anos 1980 era composta por apenas duas pessoas. Apenas sete hits dessa época tiveram três autores. Hoje, há canções com dez autores, como “Uptown Funk”, de Bruno Mars, e “Havana”, de Camila Cabello.
Isso ocorre, em partes para que todos os envolvidos na criação de um hit compartilhem os royalties. Mas também é um sintoma da linha de produção do pop contemporâneo. O maior hitmaker dos últimos vinte anos é o sueco Max Martin, com 27 primeiros lugares na Billboard. Você pode não conhecer o nome, mas já ouviu “I Want it That Way” do Backstreet Boys, “Baby One More Time” da Britney ou “Blinding Lights” do The Weeknd.
Martin é um camaleão: se adapta a cada artista, lê o contexto cultural do momento e conjura uma música feita sob encomenda para estourar. Bem diferente da maior dupla de compositores dos anos 1960, Lennon e McCartney, que cantava as próprias músicas com a própria banda (ou do Led Zeppelin nos 1970, cujo produtor era o próprio guitarrista, Jimmy Page).
Desde os anos 2000, a colaboração entre produtores e artistas solo tomou os rankings e jogou as bandas para escanteio. Além disso, é claro, gêneros que giram em torno de figuras individuais ganharam proeminência – pense nas divas pop e nos MCs de rap, funk e trap. Para quem cresceu ouvindo grupos, esse é um cenário alienígena.
A ideia de que um artista deve crescer lentamente, como Taylor Swift, também perdeu espaço, ainda que a internet forneça um meio de conexão direta com os fãs que gerou carreiras longevas para quem soube usá-la.
“Antes, a gravadora é que fazia a seleção. Ela atuava como curadora do que você ia escutar. Esse processo era importante, porque dava um tempo de maturação do artista, inclusive para a imprensa“, diz Sérgio Martins. “Hoje, qualquer fenômeno do TikTok vira capa – e na semana seguinte, está esquecido.”
Quem foge dessa lógica pode se dar bem. Vide MC Binn [ex-MC Bin Laden] – que deu um tempo na vida frenética do funk nacional, foi para o exterior buscar conexões e acabou gravando com o Gorillaz. Agora sim: “tá tranquilo, tá favorável”.

Do álbum ao single
Uma terceira questão é que nossa capacidade de concentração foi para as cucuias com o feed infinito das redes sociais. Isso inviabiliza canções pop compridas como “Tiny Dancer” de Elton John, em que o refrão só entra no terceiro minuto, após uma longa tensão.
Junte isso com uma mudança no formato de distribuição – o Spotify e o YouTube propiciam muito mais a audição de singles e playlists do que álbuns inteiros –, e é natural que emplacar um disco inteiro tenha se tornado mais difícil (ainda que não impossível, como provou Olivia Rodrigo com Sour).
Vale lembrar que essa não é uma exclusividade da era do TikTok. Em 1965, as rádios não queriam tocar “Like a Rolling Stone” de Bob Dylan porque ela durava seis minutos. Mas é fato que os anos 1970 permitiram uma exploração inédita do álbum como uma obra.
Músicos que começaram na pastelaria de hits de três minutos do pop sessentista, como Stevie Wonder e Marvin Gaye, chegaram aos anos 1970 compondo obras-primas conceituais como os discos What’s Going On e Songs in the Key of Life.
Como os anos 1970 foram possíveis? Parte da resposta é que, nessa época, os executivos fumantes de charuto das gravadoras tinham muito dinheiro e pouca dor de cabeça. “O Frank Zappa chamava o pessoal das gravadoras dessa época de I don’t know guys [os caras do sei lá, em tradução livre]”, conta Felipe Vassão, produtor do hit “AmarElo” do Emicida, e comandante de um canal do Tik Tok com 300 mil seguidores.
“Nessa época, os caras tinham tanta margem de lucro com a indústria fonográfica que tudo que fosse proposto eles respondiam com I don’t know. Eles começaram a experimentar, a dar liberdade criativa, basicamente porque a conta do Led Zeppelin pagava quem não dava certo.”
Isso ajuda a explicar por que o ranking de melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone continua tendo uma maioria esmagadora de discos dos anos 1970 (veja o gráfico abaixo) – ainda que tenham se passado 21 anos desde sua primeira publicação em 2003, e que agora haja uma variedade de gênero, idade e etnia maior entre os críticos que votam. A década de 1970 foi propícia tanto ao formato álbum quanto à ousadia.

Os saudosistas do LP valorizam a experiência de ouvir discos assim do começo ao fim, sem interrupções. Os bolachões ressuscitaram como uma reação à efemeridade do streaming (hoje, 11% da receita da indústria musical vem de formatos físicos).
“O número de plays que você dá em uma música não equivale ao seu sentimento por ela”, diz a jornalista cultural Dora Guerra, do G1. “Há músicas com que tenho muita relação afetiva, e justamente por isso não fico ouvindo o tempo todo. [O vinil] é uma forma de dizer que o que vale é a relação, não o número.”
Poderíamos passar mais seis páginas de revista enumerando outras diferenças na composição, gravação e distribuição de música dos anos 1950 até aqui – que passam até pela importância da aparência do artista desde a era MTV (nas palavras de Vassão, “antes, tinha uns caras bizarros de feios, hoje há uma exigência de ser um pedaço de carne”).
O grau em que essas diferenças importam sempre será discutível: será que os paletós dos Beatles já não eram uma exigência estética? Sempre haverá semelhanças e diferenças entre o presente e o passado, e gente construindo argumentos a partir delas.
Só não dá para discordar de uma coisa: o mundo seria triste se música tivesse parado em Chopin. Tudo que você gosta existe porque alguém fez algo diferente em algum ponto da história – e ouviu dos mais velhos que aquilo não prestava. Cada música é um retrato de sua época, filtrado pelos olhos de um compositor em um canto específico do espaço e do tempo.
Da próxima vez que você abrir o Spotify, então, não pense nele como uma bagunça de faixas esperando sua aprovação. Ele é mais próximo de um… aleph. Esse é um objeto mágico imaginado pelo escritor Jorge Luis Borges que permite ver, ao mesmo tempo, tudo que existe, existiu e existirá.
A coleção de músicas que existe no mundo é isso: uma janela ao que estava passando na cabeça de um sem-fim de compositores, de vários tempos e lugares. E uma chance de entendê-los, sem preconceitos.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO